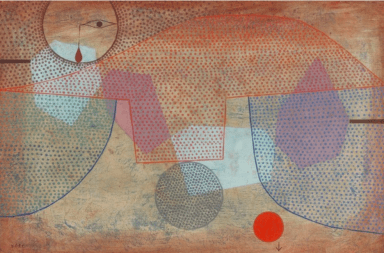Por onde a pandemia passou, ela deixou um rastro de dor. No Brasil, em razão da flagrante negligência protagonizada pelo Estado – indiferença desavergonhada, sem máscara, nem nada! –, os sulcos são mais profundos. Apesar desse quadro sofrível, tenho me esforçado para cultivar uma leitura menos amargurada dos acontecimentos.
Fui notando, no curso das semanas, que além das lágrimas, a Covid fez brotar um fio teimoso de solidariedade, uma espécie de desejo coletivo, quase sempre genuíno, de ajudar, de estar presente na vida do outro. Isso resultou num sem número de lives de gente comum e notável compartilhando habilidades, da culinária a veterinária. Eu mesmo não me fiz de rogado: aprendi noções de sânscrito e me esbaldei com Caetano.
As lives bombaram mesmo entre bibliotecários, algumas delas com temas sensacionais. Já imaginaram bibliotecários brasileiros discutindo, em alto e bom som, a respeito de acervos destinados a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexo, assexual e mais? A convite do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região, tratei com outros colegas desse assunto ainda inusitado, o que me deixou gratamente surpreso.
Afinal, nestes mais de 20 anos como bibliotecário, me deparei por dezenas de vezes com perguntas do tipo: “Livro gays numa biblioteca pública? Para que?” Está embutido nesse questionamento certa preocupação em evitar polêmicas, mantendo-se na trilha mais confortável, o que não deixa de ser compreensível. Afinal, é relativamente recente a discussão a respeito do papel ideológico das bibliotecas na construção e manutenção de práticas de violência ou o seu oposto.
Desse modo, esse tipo de pauta sobre a criação de produtos e serviços específicos para grupos marginais implica reconhecer que as bibliotecas, enquanto artefatos culturais, sempre estiveram envolvidas na construção de sistemas de verdades, sejam estes louváveis ou reprováveis. Afinal, ela compõe a estrutura de poder, essa complexa rede de dispositivos que atravessam toda a sociedade e que nos diz o que é certo ou errado.
Desse modo, é inverídico e frustrante a biblioteca evocar a neutralidade para tentar justificar a uma lésbica a ausência das obras de Vange Leonel em suas estantes. De fato, o silêncio travestido de imparcialidade costuma ser tão virulento quanto uma baioneta.
Mas, o que justificaria a biblioteca se envolver nessa pauta tão melindrosa? Há duas razões para isso: a primeira delas, a defesa do direito à vida, “que abrange tanto o direito de não ser morto […], como também o direito de ter uma vida digna.” (LENZA, 2019, p. 1168). O Brasil é terreno minado a quem possuir uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento ou uma orientação sexual distinta da heterossexualidade.
No Ceará, a travesti Dandara foi assassinada a chutes e pedradas pelos vizinhos. Já no interior de São Paulo, a mãe do jovem Itaberli Lozano, inconformada com a sua homossexualidade, recorreu a golpes de faca e ao fogo para eliminá-lo. Os fins trágicos de Dandara e Itaberli não são casos isolados. Segundo levantamento do Grupo Gay da Bahia, um cidadão LGBTQIA+ é assassinado no Brasil a cada 24 horas, o que nos põe no topo desse triste ranking.
Além dos homicídios bárbaros que ilustram as manchetes dos jornais e geram uma indignação efêmera, o bastão da violência simbólica é erguido contra esses indivíduos desde a mais tenra idade: é a risada, é a piada; é o cascudo, é o repúdio. A homofobia brasileira é particularmente gravosa por sua dissimulação.
Recordo-me de um parlamentar que, ao protocolar projeto de lei visando impedir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, declarou, sem ruborizar: “Não sou homofóbico. A sala lá de casa até foi decorada por um gay.” Assim, pretendendo camuflar o próprio ódio, ele forja uma relação de empatia com sua vítima e a encarcera num espaço seguro e restritivo: é o cabelo, é a moda, é a decoração; nada mais. Dessa narrativa burlesca o agressor, “gente de bem”, sai com a consciência tranquila.
A tensão social brota no minuto em que a vítima ousa pisar na linha riscada por seu algoz. Isso tem-se dado quando a comunidade LGBTQIA+ passou a questionar os discursos que atribuíam ao seu corpo e aos seus desejos uma carga penosa e reprovável. Trata-se de uma disputa pelo poder de fala, o qual legitima todo os modos de vida.
E que discursos são esses que distinguem o sujo do limpo, a virtude do pecado? A religião e o direito, certamente, exercem um papel de destaque nesse processo. Entretanto, como bem nos sugeriu Michel Foucault (1979, p. 182), é importante “[…] captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício.” É lá, nesta ponta, que se encontra a biblioteca. Ser sensível ou impassível é escolha dela.
O segundo motivo que deveria levar um bibliotecário a ponderar a respeito dessa pauta é o fato de ter se comprometido, solenemente, na colação de grau defender “o cunho […] humanista” da profissão. Ao prometer publicamente desenvolver seu trabalho “fundamentado […] na dignidade da pessoa humana”, o bibliotecário se coloca, voluntariamente, num estado contínuo de tensão, atento a qualquer sistema de verdade que atente contra a diversidade. Ele é, sob juramento, um combatente contra toda prática de violência. Quem de nós ousaria atribuir o mais fantástico dos mundos aos abraçados pela sigla LGBTQIA+? Lembremos do Itaberli, lembremos da Dandara.
 Título: Microfísica do poder.
Título: Microfísica do poder.
Autor: Michel Foucaut
Editora: Edições Graal
Ano: 1979
 Título: Direito constitucional esquematizado
Título: Direito constitucional esquematizado
Autor: Pedro Lenza
Editora: Saraiva Educação
Ano: 2019