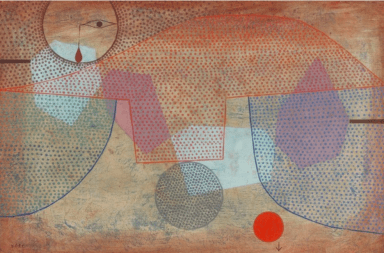Erguido na ponta dos pés e agarrando com força a grade da janela consigo ver um bom pedaço da muralha e o infinito estendendo-se para além desse cercado. Não dá pra saber a hora exata. Sei que é começo da manhã porque os raios de sol começam a tocar os muros no sentido inverso de minhas intenções. Lambuzando de amarelo a parte superior, bem no caminho por onde os guardas fazem suas rondas, o sol tinge a fronteira com o mundo exterior em um ritmo próprio e incontornável.
Tudo comum não fosse o fato de não ter passado ainda nem um dos representantes da ordem. Aqueles que caminham convictos sobre as muralhas o fuzil atado às costas e empunhando o treinado olhar castrador, sempre mirando simultaneamente para cada uma das janelas emolduradas por grades.
Minha posição não permitia estender a visão até a guarita da muralha, então lutei para esquivar-me de quaisquer questionamentos ou divagações sobre a quebra da rotina. A experiência me ensinou, não sem dor, a inutilidade de criar fantasmas antes de sua existência real. Mesmo quando se concretizavam, como aconteceu na maioria das vezes, sua criação anterior fazia-lhes mais potentes quando surgiam diante de mim.
Quando me dei conta da extensão da pintura que o sol já havia espalhado pelo muro, percebi outra fratura na engrenagem da cadeia. As celas não haviam sido abertas, nenhum preso no pátio e um silêncio, comum apenas nas madrugadas sagradas para nós que sobrevivíamos privados de nossa liberdade. Os sonhos são os únicos transportes imunes às fronteiras humanas, neles os aprisionados embarcam todas as noites em viagens livres dos cercados sedimentados ao longo dos séculos de progresso civilizacional. Por conta disso, o silencio é o imperador das madrugadas carcerárias.
Sem pensar ou premeditar qualquer ação, forcei a porta do meu barraco. Ato que só fez aumentar minha cabreragem. Não estava trancada. Fiquei parado, não empurrei mais a porta que permaneceu entreaberta. Sentei na cama, acendi um cigarro e, lutando contra os fantasmas que já se manifestavam em minha mente, tentei observar qualquer movimento no corredor pelo pequeno vácuo criado pela abertura da porta.
Nada, nem um movimento, nem um barulho, nem sequer o velho vento encanado, perito em produzir sinistros sons nas curvas dos pavilhões.
A cinza já estava do tamanho do cigarro quando ainda estava apagado e isso só percebi quando senti a queimadura no meio dos dedos. O não acontecimento do mundo externo me levou diretamente para o abismo interno e só senti a queda quando despertado pela queimadura. Soltei o cigarro no chão e acendi outro, precisava ficar acordado, alerta.
Sentia-me ainda mais preso, mesmo com a porta aberta e sem o guarda na muralha. Essa constatação me levou de volta à janela. Os raios de sol já começavam a se derramar pelo chão encostado à muralha. Já passava muito do tempo de chegar às marmitas e o silêncio continuava a selar a ausência de qualquer movimento em todos os cantos aos quais eu conseguia estender minha visão.
Lembrei do rádio e corri para ele com a certeza de ser minha única possibilidade de comunicação com o mundo exterior. Feito um crente temendo o juízo final, apertei o botão para liga-lo e nada. Não controlei o desespero e, como se lutasse para continuar respirando, violentamente bati em todos os botões. Quando retomei a consciência, o rádio estava no chão, pedaços do aparelho espalhados por todos os lados e eu, sentado num canto, senti alguma coisa escorrendo em minha perna. Tentando tatear para sentir antes de ver o estrago, percebi que o corte não era na coxa encharcada. Estendi o braço e vi um pequeno ribeirão que cortava a palma da minha mão de um lado a outro, finalizando e escorrendo bem na base do dedinho.
Levantei e coloquei a mão embaixo da torneira deixando escorrer muita água, enquanto alimentava a esperança desse incidente ter sido o fato necessário para colocar ordem nas coisas outra vez. Além disso, manter a mão ali era uma maneira de evitar olhar para a fresta da porta e tentar qualquer aventura pela moldura da janela.
Tentativa inútil. A realidade invadiu a cela, destroçou a falsa esperança com a força do crepúsculo, destronando a luz do dia e preenchendo vagarosamente os espaços pincelados pelos raios solares.
Desliguei a torneira, enrolei uma camiseta na mão machucada e fui direto para a lâmpada. O escuro agora era o maior dos fantasmas, fazendo de todos os outros pequenos monstros de histórias infantis. Girei minha esperança de iluminação e nada. Novo tornado de desespero. Precisava me controlar a qualquer custo. Parei e examinei a lâmpada, não estava queimada. Lembrei do rádio e senti na nuca mais uma paulada da realidade. A cadeia tava sem energia.
Percebi o breu deslizando calmamente por cada canto do curto espaço no qual estava trancafiado e procurei em mais um cigarro a companhia para resistir ao pânico irremediável. Num súbito raio de serenidade, lembrei do toco de vela guardado embaixo do colchão e a ele me agarrei com as migalhas de força que me restaram. Precisava resistir a acendê-lo até que a escuridão fosse inevitável em todos os cantos. Enquanto isso podia me encolher nos pequenos estuários de claridade sobreviventes.
Essa luta me livrou por um tempo de encarar a realidade desconexa da qual me fiz refém durante todo esse dia tenso, mas sadicamente ligeiro, que passou rápido como o sangue desaguando do corte em minha mão, diluindo-se na água corrente da torneira e desaparecendo no redemoinho do ralo da pia.
Sob o domínio completo da escuridão acendi a vela. A pequena chama projetava sombras na parede, no teto, no chão, na cama, na pia, na moldura da janela. Em vez de tranquilizadora a vela pareceu ser aliada dos malditos fantasmas que vinham roubando minha paz desde o momento em que olhei na janela e não tinha nenhum miserável guarda rondando na muralha.
O silencio apaziguador e companheiro de tantas madrugadas, enfrentadas com devaneios que serviram como escudos para sustentar fantasias indispensáveis à submissão ao cotidiano carcerário, acontecia com a mesma violência do fuzil apontando na direção da minha janela nas intermináveis rondas dos guardas.
Um pequeno sopro de vento empurrou um pouco a porta da cela e ao mesmo tempo movimentou a chama da vela iluminando a janela. As grades sumiram. Ouvi meu grito espraiando-se pelo vazio da cadeia e batendo de volta, transformado o eco em fiel anunciador da realidade.
Um dia inteiro sem comer nada e enfrentado sem nenhum amparo da rotina a desordem desconcertante, senti esgotando-se o restante de sanidade na qual vinha me agarrando desde o principio das fugas involuntárias. Não era possível sumir as grades, elementos concretos da realidade.
Fui subitamente interrompido dessa divagação com um uivo do vento e um rangido da porta que agora estava completamente aberta. Não pude evitar e olhei para o corredor. As luzes das celas que podia enxergar de onde estava recolhido estavam acesas e todas as portas abertas.
Passei o dia lutando para encontrar alguma coerência nos acontecimentos e, a cada expansão do olhar, encontrei somente visões afirmadoras da incoerência e da quebra total da ordem costumeira.
Cada fato divergente do esperado diluía as miseras forças que me mantinham desperto e ainda capaz de controlar o pânico sombrio, sempre a postos para tomar minha alma.
Tentei me convencer, era um sonho, só podia ser. Estava num pesadelo e não conseguia acordar. Nada restava fazer, uma hora eu iria acordar e tudo retornaria à exatidão mantida pelas engrenagens tão bem encaixadas ao longo de milênios de evolução.
Decidi então parar e me deixar levar pelos novos enquadramentos impostos pela ordem criadora e controladora daquele pesadelo. Rapidamente a decisão foi destituída, não tive coragem para apagar a vela e assim me deixar levar pela suposição apaziguadora de estar duplamente preso: pela sociedade e pelo sonho.
Sem outra saída plausível levantei-me e espreitei a janela sem grades. Não vi a muralha. Só podia ser a escuridão. Forcei a vista e fui obrigado a aceitar outra pancada da realidade: não existia mais muralha.
A ausência dos muros, até ontem objetos concretos de meu encarceramento, fez pular sobre mim uma força desconhecida apertando desmedidamente minha garganta me sufocando até o quase desmaio, quando parava e retomava o enforcamento.
Descontrolado, sai correndo da cela em busca de ar e parei desnorteado no meio do corredor. Todas as celas estavam abertas e dentro delas nenhum preso, nenhum móvel, nenhum sinal de existência. Todas repletas por um vazio que prontamente se apoderou de mim e do qual tentei fugir correndo desabaladamente até o fim do corredor.
Desci as escadas e no corredor de baixo o cenário era o mesmo. Das celas abertas e vazias vazava somente a presença da luz acesa em cada uma delas. Continuei correndo e no pátio parei aterrorizado, constatando a ausência das muralhas e de guardas em todas as partes.
Tudo estava aberto, não havia mais a barreira com o mundo exterior. Essa ausência foi o reforço final para o pânico se apossar de mim. Corri de volta pra segurança vazia de minha cela. Único lugar onde a cama, o rádio despedaçado, a pia ensanguentada e os pequenos detalhes definidores da rotina que me mantém imerso na realidade, deram-me a resma necessária segurança. Sentei na cama e assoprei a vela para mergulhar na escuridão e assim evitar a necessidade de decidir se estava acordado e precisava dormir para me proteger, ou se estava dormindo e prolongando indefinidamente o despertar para a realidade.