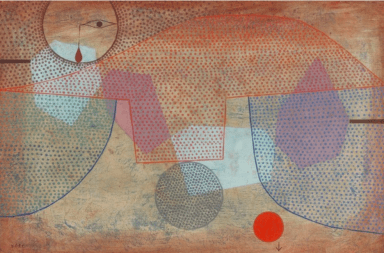A primeira lembrança da infância, aos nove meses, foi a dança dos reflexos da luz do sol nas águas límpidas e transparentes do Apa, no sombreado Passo Macaco. Minha mãe prendia a rede no tronco das árvores da margem, e lá eu ficava admirando o colóquio entre as águas correndo nas pedras e o vento se esgueirando na copa das árvores.
Pá, pá, pá!… – As lavadeiras batem a roupa nas pedras. Escuto-as conversando em guarani, uma se chamando às outras de comadre. Conversas de famílias, desabafos e fuxicos.
Do outro lado do rio é o Brasil.
Foi no colo da minha mamá que, aos dois anos, numa noite quieta, amena e enluarada, que pela primeira vez prestei atenção ao nome Brasil. O Apa separa, naquela região, dois países, duas cidades: Bella Vista, Paraguai e Bela Vista, Brasil, até hoje, quando a coirmã paraguaia se chama Bella Vista Norte, pois deve existir outra homônima ao sul, é claro.
Na margem brasileira, perto do rio, localizava-se um bairro pobre, com vários cabarés e casas de prostitutas. Tinha a ña, dona, Porfíria Menezes, que, ela afirmava, só ficava com civil e militar; a ña Juana Pella, dona Joana Gorda, a Martina´í, a pequena Martina, e tantas outras. As mais procuradas eram a Casa Verde, a Ana Lopes, e a casa do Tôgo. Poucas casas esparsas, mas muita violência. As polcas paraguaias tocavam o dia todo nas eletrolas, acompanhadas pelos gritos histéricos das raparigas, que, sentadas no colo dos fregueses, passavam o dia tomando cerveja, vermute ou quinado, com as alças do porta-seios arriadas, em desleixo.
A qualquer hora, a eletrola abafava os arquejos e rumores na ânsia do gozo no quartinho de tábuas ou de taipa. Assim era o Baixadão, a baixada da boemia. O pessoal dizia, pode baixar que elas dão…
Baixadão.
Tinha eu, então, cerca de cinco anos, quando aconteceu este caso. Ele era conhecido como Luiz, o boiadeiro, e tinha cerca de vinte e dois anos; era baixote, troncudo, apadeiguado e cheio de vida. E sempre gastava boa parte do que ganhava nos negócios com as raparigas, principalmente as paraguaias, que no imaginário erótico-sexual do povo eram as melhores.
O fato aconteceu em 1952.
Eu era apenas um mitã´í, menino, de pele morena e cabelos castanhos lisos, e todos me chamavam pelo apelido popular de Kequíto.
Naquele sábado à noite o céu estrondava; um temporal se aproximava violento. Relâmpagos riscavam, sem parar, o horizonte, e o vento vergastava as enormes mangueiras no quintal. Minha mãe serviu cedo o carreteiro, e foi depois rezar em frente à imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acabado o jantar, deitamos nos catres, e ela apagou as lamparinas, e se recolheu ao quarto, junto ao marido.
O boiadeiro Luiz estava olhando pela janela do cabaré do Tôgo. Segurava na mão um copaço de vermute. Já estava meio bêbado. Que lhe importava o tempo? Pouso é que ali não faltava…
Uma mulher se aproximou, e colando o corpo no seu, pediu-lhe matreira:
— Paga pra mim uma cerveja, meu bem…
— Por que não? – e elevando a voz, instruía:
— Dá uma cerveja aí, Tôgo! – e para a mulher, brando, carinhoso:
— Vem sentar aqui, docinho…
Ele puxou duas banquetas; ela sentou, puxou a barra da saia para cima e cruzou as pernas, deixando à mostra a tentação das grossas coxas. Luiz, de um só gole, acabou com o meio copo de vermute. Passou a mão no copo de cerveja. Seu patrão Lazinho Corrêa lhe pagara bem pela última venda de boiada, e estava forrado de pirá-pirê naquela noite tempestuosa.
Um raio clareou o cerrado e logo o ribombo se fez ouvir, ameaçador. O Luiz, porém, não estava nem aí. Ele era paulista e corajoso.
Encheu de novo o copo, com espuma.
— Fundo branco! – atiçou a mulher.
Ele chupou até o “bigode”. Feliciana lhe deu um chupão no pescoço como recompensa pela demonstração de que ele ia até o fundo…
Eu não conseguia dormir.
Sentia-me extasiado com a violência da natureza. De olhos abertos, naquele quarto de chão de cupim socado, minha imaginação disparava nas asas do yvytú tarová, ventania. Via o pôra, fantasma, nos cantos escuros do quarto, ao rebrilho dos relâmpagos.
As primeiras gotas grossas caíram, estralando no chão como pancadas de tejú-ruguái. Aos poucos só a barulho da chuva se ouvia, e o cheiro adocicado do barro molhado da parede penetrou-me nas narinas.
O boiadeiro olhou as horas.
Uma da madrugada do domingo.
A mesinha ao lado estava tomada de garrafas vazias. Ele estava encharcado, bêbado como um kurê, porco. Falava alto, contava vantagem e lorotas.
— Dá mais uma aí! Hoje quem paga sou eu!…
Meteu a mão, descontrolado, no bolso das calças e tirou um maço de notas de cruzeiro; era muito dinheiro. A rapariga se aproximou, deu-lhe mais um chupão enquanto com a mão bolinava sua virilidade; quase caía da banqueta com os afagos.
Depois daquela, vieram outras cervejas.
A tormenta, finalmente, passou.
As rãs orquestravam sua úmida alegria nas canhadas. A temperatura tornou a esquentar com o mormaço que se seguiu. Lá pelas três da madrugada a lua apareceu num céu que aos poucos se desanuviava.
O boiadeiro dormia sentado, apoiado no espaldar de uma cadeira. A puta encerrou o papo com o sonolento balconista e se achegou ao boiadeiro. A muito custo conseguiu acordar o homem do seu torpor alcoólico.
— Vamos tomar um banho no Apa, benzinho… – convidou insinuante.
Ele olhou atarantado a luz do lampião. O vulto da mulher mal se enquadrava na memória. Tentou se pôr em pé, e cambaleou com o chapéu na mão. Estava feio, precisava mesmo urgente de um banho reanimador. Balançou afirmativamente a cabeça, e a mulher, pegando-o pelo braço, levou-o ao seu cubículo. Tirou suas botas, desabotoou-lhe a camisa, e o boiadeiro foi se despindo. A mulher ajeitou suas traias em cima duma mala velha de couro; até o relógio deixou, ficando apenas de cuecas.
O Apa era perto. Era muito comum o fato de casais se banharem nus na madrugada, e depois se amarem nas tépidas areias da margem. Ao sair do cabaré pegou uma garrafa de cangebrina, que era para rebater a friagem e o pifão.
Desceram até o Passo Macaco, pelo trilheiro que segue ao largo da chácara do seo Paulino Ferreira, guarda aposentado da alfândega e aficionado por rinhas de galo. Lá o rio era raso, e seu leito cheio de cascalho miúdo, sem perigo de se topar com uma raia ou uma sucuri. Havia também, no meio do rio, uma ilhota formada por bancos de areia, onde poderiam fazer muita sacanagem. A água estava morna.
Com a garrafa na mão, ele entrou no rio, em cujas águas se refletia silenciosa, a lua. Seguido pela mulher, chegou, cambaleando no pedregulho, até a ilhota. Tomou um bom trago, e soltou um berro de animação; a mulher deu uma gargalhada e emendou o gritou também. Assim era a gente do Baixadão.
O céu começava a se tingir de cinza, quando a voz da mamãe, lá do quarto, me acordou:
— Kequíto! Kequíto!…
Como de costume pulei da cama.
Vesti a camisa sobre as calças curtas e, sonolento, fui para a cozinha. Catei os gravetos secos ao lado do fogão de tijolos; levantei a tampa da chapa, e ajeitei um pedaço de revista velha em baixo, no meio das achas e gravetos; prendi fogo, e aos poucos a fumaça deu lugar ao crepitar do tatá, o fogo. Lá fora o sol começava a faiscar na terra úmida, e a brisa fresca festejava, com os gorjeios dos passarinhos, o despertar da natureza. Coloquei água na chaleira e deixei-a esquentando, enquanto ia para o lado das bananeiras, urinar no buraco da latrina feita de pedaços do cerne do bocajá.
Embaixo do pé de manga, ao lado da casa, existia um poço muito fundo, que ña Affonsa, grávida da Kéca, tinha cavado com as próprias mãos. O poço, todo entijolado, filtrava a mais pura e doce água que até hoje tenho bebido. Puxei um balde e despejei a água na bacia; lavei sofregamente o rosto, e com um pouco de cinza, na ponta do dedo indicador, limpei os dentes; depois os escovei.
Quando voltei para a cozinha, o vapor assobiava pelo bico da chaleira. Preparei o ca´aý, o mate, com malva-potý, flor da malva, e levei a cuiada para o pai. Bati na porta do quarto e entrei. Entreguei a cuia enquanto dava o bom dia, e juntando as duas mãos, como numa reza, pedi-lhe a costumeira benção.
— Diós te bendiga, hijo…
Luiz, o boiadeiro, levantou-se da areia.
Espreitou longamente a mata da margem paraguaia, que aos poucos ia se tornando visível, definindo suas formas. Sorveu mais um golaço e largou a garrafa de cachaça na areia. O álcool dominava seu cérebro, e em seus olhos bruxuleava o desatino, a loucura da noite não dormida. Parecia o touro enfurecido; prestes a dar a última estocada.
— Gracias, no quiero más, Kequíto…
Larguei a cuia, calcei os sapatos e como de costume aos domingos fui para a igreja, assistir à Santa Missa. A igreja ficava a apenas uma quadra, seguindo-se uma alameda de perfumados ciprestes ladeira acima.
Quando o boiadeiro, quase peladão, correu desajeitado pelas águas no raso, a rapariga não tentou pará-lo. Nenhum gesto fez para evitar que o infeliz ultrapassasse a fronteira naquelas condições. Quando ele sumiu na trilha na outra margem, ela se levantou, saiu da água, cobriu o corpo nu com a toalha e retornou rapidamente ao cabaré. Foi dormir. Se o homem de cuecas não retornasse, azar dele. Sua grana estava lá, no bolso das calças, em cima da mala velha.
O som do sino correu pela Cancha e pelo Huguá.
Entrei no templo, e procurando os bancos dos alunos, ali me ajoelhei. As pessoas chegavam, em silêncio, só ou em grupos de famílias; as mulheres com vestidos sóbrios e longos véus brancos ou pretos; os homens vestidos com folgadas calças de linho claro, sapatos de cromo alemão, com o chapéu panamá ou carandá na mão. O coroinha deu uma espiada por trás da pesada cortina da sacristia.
O boiadeiro, sempre correndo, saiu da trilha à beira do rio, e tomou uma larga rua. Essa rua, pelo pouco trânsito, usada muito pelos contrabandistas a cavalo, apresentava-se cheia de touceiras de assa-peixe, e pelo chão se espalhavam juás-arrebenta-cavalo; a chirca, que servia para vassoura, infestava a beirada das quinchas. Deparou-se abruptamente com uma casa de tábuas, recém pintada de verde, do sapateiro Baltazar Sanabria.
Parou.
Olhou a casa, confuso.
Já não sabia onde estava, nem o que fazia.
Um cachorro enorme latiu. Olhou assustado o animal que se levantou de trás de um monte de achas de lenha. Pôs-se a correr, abalado.
A missa começou.
O Reverendo Afonso, cabelos grisalhos e com forte sotaque americano, rezava em latim:
— “Dominus vobiscum…”
Um guri viu o homem seminu correndo pela rua acima, e disparou avisar os tarrachi, a polícia paraguaia, cujo destacamento era ali perto. Dado o alarme, dois soldados saíram com o mosquetão na mão, e ao dobrarem a esquina, avistaram o louco que gritava palavrões e corria ensandecido.
O momento da Consagração.
— Alto! – gritou um dos tarrachi.
O boiadeiro, entorpecido pelo sono, perdeu a noção do perigo, e partiu em direção dos soldados. Seu cérebro, perturbado pelo álcool, captava vagos sinais de ameaça, e seus olhos, como taças cheios de sangue, só viam inimigos; sua vontade era destruir, matar.
A hóstia está suspensa no alto.
— Este é o Meu Corpo…
O primeiro tiro atinge embaixo do coração.
O cálice foi elevado.
— Este é o Meu Sangue…
O segundo tiro atinge-o em pleno peito, projetando-o para trás, contra uma cerca feita de pranchas de coqueiro. O sangue jorra pelos orifícios, borbulhante. Nas costas, os projéteis arrancam nacos dos pulmões, e os rombos parecem rosas vermelhas de carne. Quando, cautelosos, os soldados se aproximam, seus olhos perdiam o brilho, da loucura e da vida.
Dentro da igreja ouviu-se o ribombo dos tiros, no silêncio do momento sagrado. Todos se entreolharam. Até o padre parou um instante com o cálice nas mãos.
Sob o olhar assustado do menino Naíno, arrastaram o corpo, pendente num carrinho de mão, até o calabouço. Colocaram-no em cima dum tablado, na sombra de pé de paraíso, onde uma cigarra zínia sua corneta. Um tarrachi jogou, sobre o corpo inerte, vários baldes de água. O boiadeiro estava completamente nu, pois a cueca se rasgara toda no arrasto.
A missa terminou.
Lá fora as pessoas se agitavam, escutando o que um menino contava. Até o padre saiu curioso. A gurizada gritava em grupos:
— Jahá ja ma´ẽ ! Vamos ver!
Outros:
— Ejúpue jahá! Venha, vamos logo!
Animei-me e fui também.
Não devia ter ido.
Quando me aproximei daquele corpo nu, um saco de estopa cobria suas vergonhas, e gotejava sangue aguado pelos orifícios das balas. Fiquei fascinado pela cena. Os olhos abertos e revirados, parados na inércia da morte, fitavam, opacos, o infinito do céu azul daquele domingo.
Mas nada mais viam.
No Brasil comentaram que os tarrachi mataram o boiadeiro para lhe roubar o dinheiro. No Paraguai comentaram que o sujeito era um louco perigoso e que mataria o primeiro “paraguai” que encontrasse, e que os policiais foram obrigados a matá-lo, pois não queria se entregar.
No cabaré do Togo, a rapariga soube logo da notícia. Escondeu as traias do boiadeiro, guardou o dinheiro dentro da calcinha, e tomou rumo ignorado e não sabido, até hoje.
No meu catre, à noite, eu fechava os olhos para dormir e o finado abria aqueles enormes olhos opacos. Eu queria dormir, mas o medo não deixava; só o Luiz fechava as pálpebras e dormia o sono eterno. Por mais de um mês a visão me perseguiu, no escuro do quarto.
A morte só é boa mesmo para quem descansa…
*Ilustração: Janaína Guimarães