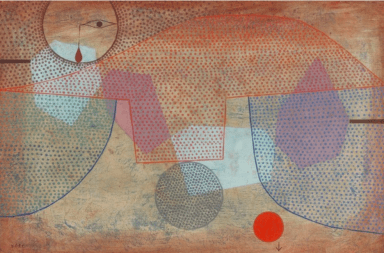Frequentei a educação básica na época da ditadura. Minhas duas filhas fizeram o mesmo em tempos de declarada democracia. Uma já passou dos trinta e a mais nova está na fronteira dos quinze. Quase “três gerações de estudantes” na educação básica na fronteira de dois séculos, o 20 e o 21. Em nenhuma dessas vivências em escola encontro qualquer registro sobre adequada contextualização e debate sobre o colonialismo e a exploração dos povos nativos do que há mais de 500 anos chamamos de Brasil, e sobre a escravização da população africana e todos os desdobramentos que nos trouxeram aos dias de hoje com uma dívida histórica irresolvida – além de impagável – e o racismo estrutural à flor da pele.
Eu aprendi na escola sobre hábitos alimentares, vestimentas, na linha “contribuições para a nossa sociedade”, como novas palavras no vocabulário. Cito duas, que por razões inexplicáveis emergem na memória: mandioca, palavra que vem do termo tupi mãdi’og, mandi-ó ou mani-oca, que significa “casa de Mani””, e a palavra moleque – “do quimbundo mu’leke, que significa literalmente “filho pequeno” ou “garoto”. O “quimbundo é uma das línguas bantas (da família linguística nígero-congolesa) mais faladas em Angola, na África”, descobri há pouco.
Mandioca é o terceiro alimento com maior fonte de carboidrato por estas bandas das Américas tropicais. Suuuper bacana! Precisamos de alimentos potentes para seguir garantindo combustível energético para o nosso super cérebro seguir inventando maravilhas que poderão até nos levar para habitar algum outro planeta distante nesta ou em outra galáxia. Bora drumondear:
“O homem, bicho da Terra tão pequeno,
lugar de muita miséria e pouca diversão
Toca para a lua
Desce cauteloso na lua
Pisa na lua
Planta bandeirola na lua
Experimenta a lua
Coloniza a lua
Civiliza a lua
Humaniza a lua.
Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.
Vamos para marte – ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte…..”
Há uma dor profunda em você, como se esmagasse seu coração, porque pesa demais o fato de que existiam cerca de 8 milhões de indígenas no Brasil em 1500 e segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, há no Brasil cerca de 817.963 de indígenas? Está claro que isso se chama genocídio?
Sem importar o rastro de vidas pilhadas, seguiram-se com os planos colonialistas de retalhar e ocupar terra brasilis. Sem afagar a terra. Sem conhecer o cio e os desejos da terra. Roubando da terra. Iniciando um ciclo de pilhagem e supressão da atlântica mata para lucrar com o Pau Brasil, levado à beira da extinção. Usando o dicionário do capitalismo, o que foi feito atende pelo nome de apropriação da propriedade privada, uma vez que aqui era terra habitada há milhares de anos, embora não seja de posse a relação que os povos originários desta terra têm com a terra.
A relação é de pertencimento: seres humanos e natureza são organismos indissociáveis, uma visão de mundo imortalizada nas palavras do Cacique Seatle, em resposta à proposta do presidente dos Estados Unidos nos idos de 1824 de comprar grande parte das terras ocupadas por seu povo. Vamos “ouvir” um trecho:
“A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o cervo, o cavalo, a águia, são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro, e o homem – todos pertencem à mesma família.”
Invisibilizados na história oficial do Brasil, foi apenas na Constituição de 1988 que foi incluído um capítulo sobre os direitos indígenas. Não sem luta. Não sem dor. Não em definitivo. Se você ainda não ouviu o discurso de Ailton Krenak proferido à época, não pode mais existir sem conhecer. Veja aqui e agora:
Uma ferida aberta, abertíssima, pois seguimos desrespeitando bárbara e cotidianamente a cultura e os direitos dos povos indígenas. Seja porque há um cobiçoso olhar mercantil, pois suas vidas estão enraizadas sobre o que se consideram riquezas fundiárias e minerais, e em cada ano novo é praticada a velha violência, e nós, como sociedade, não sabemos olhar com lentes que não sejam aquelas que fundamentam que tudo é produto de consumo e descarte.
Seja porque seguimos incapazes de apreciar, respeitar e zelar o que lhes é mais sagrado e com indiferença lhes roubamos a própria alma, como no recente e dolorido episódio ocorrido com o desaparecimento dos corpos de bebês yanomamis vítimas de coronavirus.
Há uma dor profunda em você, como se esmagasse seu coração, porque pesa demais o fato de que 5 milhões de africanas e africanos foram deslocadas(os) de suas vidas e trazidas(os) escravizadas(os) e que não é possível seguir a vida sem banir da face da Terra o racismo que segue ceifando vidas da população negra?
Há muito mais do que “O navio negreiro” de Castro Alves. Há a literatura produzida por autoras(es) negras(os) que escancara o que significou ser trazida(o) à força “Para este país”, da poetisa Lubi Prates:
“para este país
eu traria
os documentos que me tornam gente
os documentos que comprovam: eu existo
parece bobagem, mas aqui
eu ainda não tenho esta certeza: existo.
….: ninguém notou,
mas minha mala pesa tanto.”
Já notou como o racismo está enraizado no miudinho das coisas? Vou evocar a palavra moleque, como o povo africano se referia aos seus filhos, como está dito lá no comecinho do texto. O substantivo masculino, cujo sentido original era filho pequeno, ganhou estatura de adjetivo, pejorativo, passando a significar criança travessa, mal educada.
Já notou como a morte, a violência, o desemprego, o analfabetismo tem cor no Brasil? Qual infância está na linha de tiro? Sabe que cor é essa? Negra. Miguel, João Pedro, Ágata….
A objetificação da mulher tem sido marcada a ferro e fogo nos corpos femininos submetidos à uma sociedade tradicionalmente machista e opressora no mundo, que aqui tem matiz descarada nominada exotismo, como bem descreve com toda a tinta a filósofa Djamila Ribeiro, sempre e em especial no artigo Venus Hotentote: a exotização da mulher negra[1].
Não há espaço em texto que dê conta de apresentar todas as ignomínias praticadas contra a população indígena e negra. Mas há um espaço por excelência por onde passam crianças e jovens de todas as etnias, culturas e matizes para que recebam educação integral de qualidade e aprendam para que seja possível atuarem no mundo e no miudinho dos dias para sepultar o racismo e os preconceitos, para colocar de pé vida digna, viável e justa para todas as vidas.
Como mostra a neurocientista brasileira Suzana Herculano Houzel no Ted “Por que realmente devemos ir à escola?”, é lá, na escola, que será possível aprender a fazer uso do nosso grande diferencial biológico entre todas as demais espécies no planeta em benefício da vida, não apenas a da nossa: um cérebro super potente, com 86 bilhões de neurônios, 16 dos quais em nosso córtex cerebral, resultado de um salto evolutivo ocorrido há 2 milhões de anos. Biologia e ambiente são o tempero da nossa espécie.
É preciso saber como tudo funciona para transformar capacidades em habilidades. Sejam tecnologias, e a linguagem é uma delas, sejam emoções e afetos, compaixão, empatia, solidariedade. Aprender a colocar em uso a habilidade de ler textos e ler cenários para derrubar os muros do obscurantismo. Para rechear a palavra humano de humanidade, entendida como a habilidade de existir no mundo de forma crítica e generosa, para que a gente não se contente em alcançar as estrelas sem junto ou antes ter alcançado vida digna para todas as vidas no planeta.
O que quero dizer com isso é que já passou o tempo de sermos profundamente eficazes em colocar em prática a Lei 11.645/08, ou seja, o ensino e a aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e indígena, para muito além das efemérides consagradas no calendário nacional, sem superficialidade ou reprodução de estereótipos que perpetuam racismo e preconceito.
Será a oferta de textos e debates consistentes em sala de aula que permitirá construir no aqui e no agora as condições cognitivas – intelectuais e sensíveis – para que não passe um dia sem que uma brasileira e um brasileiro acorde de manhã pensando e atuando para arrancar as raízes profundas do racismo e do preconceito que cotidianamente vicejam como praga por estas bandas.
Para isto é preciso um currículo fortemente comprometido nas universidades que formam professoras e professores.
Para isto é preciso que as narrativas sejam bem outras.
Para isto é preciso que o acervo de leitura nas universidades e nas escolas esteja à altura de apresentar a história no Brasil como de fato ocorreu, que desmonte os estigmas e amplifique os saberes ancestrais e as lutas travadas por indígenas contra a violência e opressão dos brancos, mais David Kopenawa e Ailton Krenak; que ensine o devido lugar da princesa Isabel diante da estatura de lutas travadas por Dandara e Zumbi dos Palmares.
Para isto é preciso acuidade e diversidade na constituição do acervo literário da biblioteca da escola. Para isto é preciso incluir nos livros informativos narrativas comprometidas com o propósito do marco legal representado pela Lei 11.645/08, uma vez que é preciso recorrer à lei para extirpar a barbárie.
Com a palavra, Bel Santos Mayer, educadora social, coordenadora do IBeac e, me orgulho em dizer, minha amiga querida:
“As palavras que preenchem as páginas de livros didáticos, ainda estão marcadas por aquilo que Chimamanda Adichie chamou de ‘perigo da história única’. Falta melanina no fracionamento da história do Brasil, distribuída pelas séries/anos escolares. Os fatos, as versões dos fatos, a literatura em autoria monocromática, impõem verdades que invisibilizam a participação ativa da população negra na construção do país. Quem ousa dizer que por mais de 300 anos, o Brasil se beneficiou do sequestro, tráfico e escravização de negros e negras africanos? Quem pode dizer, que não há escravidão sem escravizadores e, portanto, pessoas não são escravas são escravizadas? Quem tem autoridade para chamar de estupro a miscigenação imposta pelo modelo colonial, como se fosse possível clarear um povo até o seu extermínio? Quem pode chamar de epistemicídio a eliminação do saber africano e diaspórico da bibliografia das universidades, da produção científica, da lista de pensadores e intelectuais, dos textos literários? Quem pode criticar as distorções da imagem de negros e negras na literatura para crianças, cristalizando-nos em situações à margem? Quem pode chamar de genocídio as mortes precoces de crianças e jovens negros? Quem pode dizer que pessoas negras existem, resistem, criam, pesquisam, escrevem, fazem e acontecem nos 365 dias do ano e não apenas nas datas comemorativas? Embora estes sejam assuntos da sociedade brasileira e não exclusividade dos 51% de pessoas negras (soma de pardos e pretos, IBGE, 2010), podemos aproveitar uma aprendizagem dos encontros digitais: mutar nosso microfone para não gerar ruídos e ouvir. É preciso silenciar um pouco, para ouvir o que pessoas negras estão dizendo há séculos. Sem ouvir, não teremos a polifonia almejada para contar as histórias.”
Com a palavra, Daniel Munduruku, escritor indígena, filósofo e, me orgulho em dizer, meu amigo querido:
“A leitura pode e deve ser um instrumento eficaz para a diminuição da exclusão social e da formação consciente de cidadãos capazes de transformar a realidade em que vivem. Não vejo outra saída ou opção que não seja dada pela leitura, pela educação e pela valorização da identidade brasileira formada pela diversidade cultural, linguística e ambiental. Estes são três eixos importantes para criarmos nas pessoas a noção de pertencimento. Os três passam pela leitura. É certo, no entanto, que é preciso que os autores indígenas estejam mais presentes nas escolas através dos livros de literatura ou mesmo nos materiais didáticos, onde o saber indígena possa mostrar a riqueza da cultura às crianças e jovens brasileiros”.
Estamos com as rotinas em suspensão. Mas é para a vida que devemos nos preparar. Na minha opinião, não para um novo normal, porque já era bem anormal e inviável o modo de vida normal em campo. E assim sendo é preciso pensar na escola que virá, como nos mostrou Ailton Krenak, para construir as bases de um amanhã que não está à venda.
Uma escola onde a biblioteca é lugar afinado com a proposta pedagógica, um lugar de encontros com a diversidade, a garantia de direitos, incluindo o direito à fruição; uma biblioteca antirracismo e promotora da vida. A escola com a biblioteca que são, em si, a concretização da garantia do direito à educação e à cultura.
“…Restam outros sistemas fora
Do solar a colonizar.
Ao acabarem todos
Só resta ao homem
(estará equipado?)
A dificílima dangerosíssima viagem
De si a si mesmo:
Pôr o pé no chão
Do seu coração
Experimentar
Colonizar
Civilizar
Humanizar
O homem
Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
A perene, insuspeitada alegria
De con-viver”.
[1] Você já ouviu falar da Venus Hotentote? Não? Mais uma razão para ler o texto da Djamila – e sair correndo para comprar todos os livros da coleção Feminismos Plurais coordenada por ela. E para navegar para além dos fatos, deixo aqui o poema escrito pela poetisa Diana Ferrus em homenagem à Sarah Baartman, nome verdadeiro da Venus de Hotentote, I´ve come to take you home (“Eu vim para levar você para casa”).