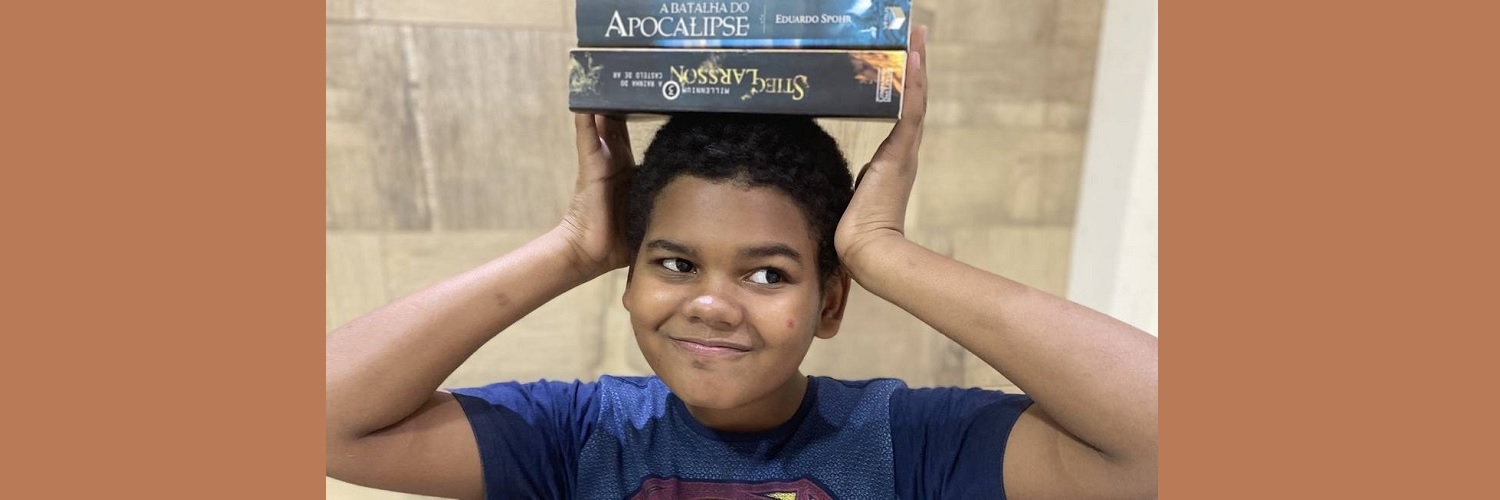Um grito de protesto é ouvido, das entranhas do monstro, do coração do império, que ecoa no mundo. O slogan diz Black Lives Matter, Black Lives Count, Justice for George. Na segunda-feira, 25 de maio, na cidade de Minneapolis, George Floyd, um negro de 46 anos, foi detido sem motivo legal por quatro policiais. Um deles, chamado Derek Chauvin, apoiou os joelhos no pescoço de Floyd até mata-lo, apesar dele implorar por sete minutos para que o soltasse, pois estava ficando sufocado.
Floyd, que praticava basquete e futebol e era uma figura pública no palco local do hip-hop, aparece em vídeo alguns dias antes de seu assassinato aconselhando jovens sobre como lidar com o racismo. O mundo, através das redes sociais e da mídia de massa, pôde testemunhar esse grande ato racista de desumanização e humilhação, até o ponto da morte. Em todo o planeta, pudemos ver o vídeo do crime, praticamente ao vivo e direto. Como o ator Will Smith disse em reação ao assassinato de Floyd, “o racismo não está piorando, só agora está sendo gravado”.
A divulgação deste ato de etnocídio, que ocorre diariamente contra pessoas negras nos EUA e no Brasil, tornou visível o que é necessário entender como o cotidiano do assassinato racial. Como Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, é crucial que isso nos faça pensar criticamente e agir de maneira antirracista. O assassinato de George Floyd não foi um evento singular ou um gesto isolado e particular de agressão étnico-racial, é um sintoma de um profundo problema sistêmico, que é um componente-chave da matriz de poder que governa o sistema mundial moderno/colonial, como Aníbal Quijano bem explicou.
As ruas de Minneapolis arderam com a erupção de frustração e raiva, especialmente de comunidades negras em setores subalternos que sofrem dia após dia a violência racial expressa por brutalidade policial, desemprego, negação de serviços básicos (como educação, habitação e assistência médica), desvalorização cultural e falta de poder político.
Essas rebeliões de Minneapolis seguem uma longa tradição de rebeliões urbanas das comunidades negras em resposta ao racismo estrutural, uma das principais manifestações da violência racista policial, que nos EUA mantêm uma longa história como portadores de culturas racistas que promovem o estereótipo de homens negros como sujeitos perigosos fora da lei (e que, como tais, merecem ser capturados sem razão e sujeitos à sua autoridade coercitiva).
A socióloga Janet Abu-Lughod, em seu proeminente livro Race, Space, and Motins, em Chicago, Nova York e Los Angeles, demonstra como, até o século 20, atos de brutalidade policial racial catalisaram rebeliões urbanas nessas três cidades americanas. A imagem viral de uma delegacia em chamas em Minneapolis expressa o calor da raiva popular e o declínio do regime racista.
Em 2014, o assassinato de Michael Brown (também de ascendência africana) na cidade de Ferguson por outro policial branco, e à deriva por várias horas, provocou uma onda de protestos que tiveram ressonâncias, não apenas locais e nacionais, mas também no mundo todo. A partir daí surgiu um movimento chamado Black Lives Matter, com a capacidade não apenas de revitalizar o ativismo negro radical nos Estados Unidos, mas também de articular diversas lutas e reivindicações de identidades (negras, feministas, LGBTIQA +, coalizões anti-imperialistas, trabalhistas comunitárias etc.), liderada principalmente por uma liderança de mulheres afrodescendentes.
A aniquilação policial de vidas negras tem sido uma prática padrão desde que o comércio transatlântico de escravos e os regimes coloniais de escravos instituíram a escravidão como um tipo de morte social (como argumenta Orlando Patterson) por conta da desumanização e exclusão de mulheres e homens escravizadas(os).
A desumanização aponta para a necropolítica que envolve práticas ativas de morte física e simbólica (negação do reconhecimento e representação de culturas, conhecimento e cidadania), bem como a invisibilidade e normalização da referida violência racial, que, por sua vez, nos torna insensíveis a elas. É por isso que é vital que em ocasiões como essa, à luz do assassinato de George Floyd, reflitamos rigorosamente sobre suas implicações, o que elas revelam sobre o desconforto em que vivemos no presente e as possibilidades de construir futuros.
A violência racial policial é uma prática antiga do racismo estrutural. Uma análise do passado recente, focada em casos nos EUA desde os anos 80, destaca uma lista de casos notáveis de assassinatos policiais contra pessoas de ascendência africana, incluindo Michael Griffith, Amadou Diallo, Trayvon Martin, Atatiana Jefferson, Aiyana Jones, Jessie Hernandez e Tanisha Anderson.
Em 2014, Eric Garner foi estrangulado de maneira semelhante a George Floyd e, quando estava perecendo nas mãos da polícia, implorou por sua vida enquanto dizia que não conseguia respirar. Além do literal, Garner e Floyd, ao afirmarem que não podiam respirar, revelaram sua morte social em um sistema que os desumaniza diariamente. Seus apelos ressoaram com a afirmação de Frantz Fanon de que a ordem racial e social dominante não permite que pessoas e indivíduos negros respirem.
A metáfora de não conseguir respirar refere-se às formas de morte da pandemia de coronavírus, que chegaram a levar ao limite a crise civilizacional convocada pelo nosso Grupo de Trabalho. As tecnologias da morte do estado imperial vêm drasticamente à tona com o número extraordinário de pessoas de ascendência africana que morreram da covid-19 nos EUA, tornando-o o quarto país com as maiores mortes do planeta.
Como dizem dois ativistas afro-brasileiros: “O coronavírus não escolhe quem matará, mas os estados escolhem quem pode morrer”. A insensibilidade irresponsável e grotesca de Bolsonaro e Trump, diante da equação letal da pandemia no Brasil e nos EUA, que neste momento é seu eixo nodal, deve-se em grande parte ao exercício da necropolítica do racismo antinegro.
Em vista desse cenário de Thanatos, que na Colômbia também se traduz em assassinatos políticos contra líderes afrodescendentes, especialmente em seus territórios ancestrais, mas também em áreas de marginalização urbana, os movimentos negros das Américas levantam a bandeira da vida. Do Alasca à Patagônia, o racismo sistêmico que guia as ações das forças repressivas do estado encontra nos corpos afrodescendentes e racializados o estranho elemento a ser aniquilado.
Contra as lógicas da morte que prevalecem cada vez mais na crise civilizadora da globalização capitalista neoliberal, os movimentos negros de Nossa Afro-América advogam a construção coletiva de um mundo melhor, baseado na harmonia ecológica, na igualdade étnico-racial e gênero, respeito à diversidade sexual, comunitarismo, assistência coletiva, solidariedade humana e justa redistribuição de riqueza e poder.
Esses princípios nos definem como um movimento afrodescendente radical e progressivo. Tomados em conjunto, esses valores constituem uma política descolonial de libertação, de uma ética da boa vida que chamamos de princípio do Ubuntu na Africania, que em várias línguas africanas significa que sou porque somos.
Mais do que um horizonte futuro, construímos o Ubuntu diariamente com nossas práticas comunitárias nas festividades da Uramba no Pacífico Afro-Sul-Americano, no Maroon do Caribe, na Malungaje afro-diaspórica, que inspiram nossa participação na onda de movimentos antissistêmicos que antecederam a pandemia, e que eles já estão reaparecendo no exercício do cuidado que orienta uma espécie de democratização da democracia e humanização da humanidade a partir do humanismo radical preto, cultivando um novo contrato social baseado no cuidado coletivo e na solidariedade, pelo bem da vida.
*Publicado originalmente no site do Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sob o título “Declaración del Grupo de Trabajo Crisis civilizatoria, reconfiguraciones de racismo, movimientos sociales afrolatinoamericanos”. Tradução: Chico de Paula