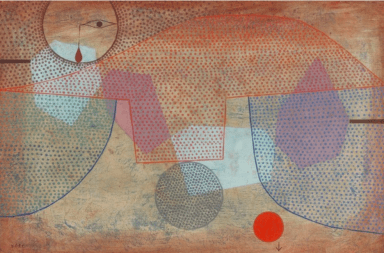Abro a Folha da Manhã,
Por dentre espécies grã-finas,
emerge de musselinas
Hilda, estrela Aldebarã.
(Carlos Drummond de Andrade)
“Um flamejante sorvete de cerejas” [1]
À frente do seu tempo, Hilda Hilst (Jaú, 21 de abril de 1930 — Campinas, 4 de fevereiro de 2004) não se limitou a seguir os padrões de comportamento esperados para uma mulher nascida no início do século XX, tampouco carregou bandeira do feminismo. E mesmo assim, fez uma revolução. Poderia mesmo manter seus status vivendo nas noites paulistanas e nas rodas de uma elite culta e festeira. Mas preferiu a vida reclusa, quase monástica, da Casa do Sol, lugar para onde acorriam amigos, admiradores de sua escrita, curiosos e ávidos por beber de sua luz. Sol incandescente. Casa guardiã do sagrado. A literatura ganhou uma grande escritora, subversiva, transgressora, eternamente descontente, a transitar em diversos gêneros e a esmiuçar um único tema: a procura. E por que sua literatura nos assombra? Por que alguém que se intitula “santa pornográfica” causa tanta repugnância até nos mais jovens? Por que essa procura esbarra necessariamente na definição do sagrado como fonte mesma do prazer humano?
Iniciando sua produção pela poesia, Hilda se ressentia da falta de leitores; lamentava o fato de que poesia não se vendia. E poeta precisa comer, vestir, beber. O escritor não vive de brisa, seu instrumento de trabalho é a palavra, que não pode ser doada. O escritor é um trabalhador como outro qualquer.
Cansada dessa litania, depois de três décadas escrevendo poesia recebida como hermética, Hilda resolve escrever obscenidades, com a finalidade de matar dois coelhos com uma cajadada só: ser vista por uma dessas editoras que tratam a literatura na lógica promíscua do capitalismo, bem como oferecer “bandalheira” para os leitores famintos de pornografia. A questão é que Hilda não se rebaixaria tanto. Não se entregaria numa promiscuidade de autor que se vende ao mercado assim tão facilmente. A literatura obscena que Hilda elabora apresenta vários degraus de leitura. O leitor comum poderá enxergar aí apenas o sujo, o baixo corporal, a transgressão, a devassidão de uma infinidade de personagens.
Essas personagens praticam atos reprováveis, impossíveis e inaceitáveis na vida fora do papel. As cenas não apenas causam repugnância ao leitor desavisado, como também sugerem que a autora perdeu o juízo. Não poucas vezes a crítica a tachou de louca, excêntrica e abusada, esquecendo, ou não querendo reconhecer nela uma genuína discípula dos escritores libertinos, a quem a literatura não funciona somente como válvula de escape das moralidades das instituições como a política, a família e a igreja, como se torna instrumento de demolição de qualquer hipocrisia.
Numa das muitas entrevistas reunidas no livro Fico besta quando me entendem (2013) Hilda afirma que sua obra, mesmo aquelas consideradas obscenas, se resume a uma procura pelo sagrado, essa incessante busca de apreensão de algo grandioso, metafísico, desencarnado. Tal procura, segundo a autora, é que daria sentido à sua poética: “A minha literatura fala basicamente desse inefável, o tempo todo. Mesmo na pornografia, eu insisto nisso. Posso blasfemar muito, mas o meu negócio é o sagrado. É Deus mesmo, meu negócio é com Deus”.[2] Mas, então, que ideia de Deus faria Hilda?
Sua educação ocorreu em colégio de freiras, ambiente austero que sempre foi motivo da crítica da autora. Esse Deus teria um apelo cristão? Pelas entrevistas, é possível perceber que Hilda vai pensar Deus através de uma estrada tripartida que inclui a literatura, os filósofos como Kierkegaard e relatos dos santos místicos. Daí que a forma de falar de Deus em sua literatura tem a ver com o aquilo que não cabe em nome: “Deus é quase sempre essa noite escura, infinita. Mas ele pode ser também “um flamejante sorvete de cerejas. É uma escuridão absoluta, mas de repente te vem uma volúpia doce lá dentro”.[3]
E, então, nos perguntamos se a estivemos lendo erroneamente. Todos os palavrões, a infinidade de referência ao baixo corporal, o lugar da sujidade, é também morada do ser supremo? Houve, então, uma inversão? Ou melhor, a autora promoveu uma descida do Numinoso[4] ao nível do humano, às suas baixezas, para estabelecer um diálogo mais igualitário com seu criador? Criatura e criador em estado de mútua contemplação? E por que insistimos na separação da obra hilstiana em sério/obsceno quando a própria autora não separa o que é do homem (profano) do que é dos deuses (sagrado)? Investigar a presença do sagrado na obra de Hilda, leitora tanto dos libertinos quanto dos místicos, parece ser um caminho para a compreensão do quanto a literatura de Hilda pode nos ensinar sobre transgressão, ou, como já asseverou Alcir Pécora, responsável pela organização da obra completa da autora para a Editora Globo, “a obra obscena é o lugar preciso, consequente e sério de destinação das questões básicas de sua obra”.[5]
Mas, então, reduziríamos a autora a uma devota cristã? Não incorreríamos no erro de pensar sua obra dogmaticamente? Não seria perigosa essa interpretação, justamente em tempos de leituras fundamentalistas? Tantas perguntas que tateiam o solo da preocupação. À literatura cabe expor os impasses, os horizontes e os limites do humano. E desde que o homem tem noção de sua existência, essas questões sobre algo superior se sucedem, na força de inúmeros mitos, na grandeza de tantos ritos ou na loucura de uma enxurrada de negações. Fala-se do sagrado, nem que seja para negá-lo, para combater a forma como as religiões se apropriaram do transcendente e o monopolizaram. Filhas do mito, também um rito, literatura e filosofia tocam na lesão do numinoso. Que ideia do divino faz uma escritora que não se deixa prender por paradigmas opressores de uma sociedade falocêntrica? Como essa procura acontece?
A própria necessidade de escrever ficção, afirma Hilda na entrevista a Caio Fernando Abreu[6], nasce de duas urgências: a tentativa de ordenar o caos interior, espécie de vírus que a contamina, ou de uma pulsão enlouquecedora, o mesmo impulso que gerou pessoas fantásticas como Rosa de Luxemburgo, Guevara, Marx, Teresa d’Ávila; e, por outro lado, o desejo de ter o que dizer em meio ao caos social e político por que passava o Brasil a partir da década de 60.
Apresento, então, duas faces de Hilda Hilst que convergem para a mesma problemática. No primeiro momento, interessa-nos pensar como Deus se torna o tema lírico e se concretiza na poesia. Em seguida, como Hilda radicaliza a ideia do divino em sua prosa. De qualquer modo, se parece contraditório pensar o sagrado pela via do erótico justamente quando uma das grandes preocupações da teologia é o uso dos corpos (um dos pecados capitais diz respeito à luxúria, ou seja, ao desejo em fúria), essa tentativa de aniquilar o desejo só aumenta sua atuação e a discussão sobre ele. O tema ambivalente do erotismo e do sagrado está, por exemplo, em Georges Bataille, em sua insistente pergunta sobre a experiência interior.
De tal modo o erotismo e o sagrado se confundem que, podemos dizer, não há como chegar ao sagrado sem passar pela experiência erótica e tampouco se pode viver esta sem resvalar naquele. Apenas a título de informação, na sua obra mais famosa, O erotismo, há, pelo menos, cinco capítulos ou estudos sobre o sagrado. O lugar do erotismo para Bataille se confunde com o lugar do sagrado, seja em relação ao questionamento do papel da religião no interdito, seja no que a sensualidade e o prazer têm de afinidade com o sagrado. Santidade e erotismo são vizinhos, embora o discurso deste seja silenciado e daquela, objeto de promoção. O que há de diferente nessas duas experiências tem a ver com a solidão: “que uma nos aproxima dos outros homens e que a outra nos aparta deles, nos deixa na solidão”.[7]

Hilda Hilst não se limitou a seguir os padrões de comportamento esperados para uma mulher nascida no início do século XX. Foto: divulgação
Mistério encarnado em verso
A epígrafe do livro Poemas malditos, gozosos e devotos expõe a questão que é crucial na obra de Hilda: “Pensar Deus é apenas uma certa maneira de pensar o mundo”. A citação da poeta mística Simone Weil é uma chave: pensar Deus não é pensar em Deus. Tal atitude se pauta, então, na tentativa de questionar a ideia de Deus, sobre sua existência. Trata-se não de uma teologia dogmática, mas de uma filosofia teológica. Pensar o mundo a partir desse pensar Deus se insere numa ação demiúrgica, força cosmogônica, mítica mesmo, que é geradora das coisas e dos seres. Essa ação, portanto, só pode ser dada pela palavra, o mito operando uma criação. Estamos no domínio da fábula.
O fato de o próprio título do livro ser elaborado a partir de uma duplicidade de sentido é um indicativo a ser imposto sempre na fusão entre dois mundos, o do humano e o do divino, o do corpo e do espírito, o do desejo e da sublimação. Os poemas dolorosos e gozosos fazem referência à oração do devocionário mariano do rosário cristão, onde se faz repetidas orações, sequências denominadas de mistérios, enquanto se narra a história da concepção, vida, morte e ressurreição de Cristo. A paixão do Cristo, portanto, continua a significar sofrimento, mas assume, na poética de Hilda, o doloroso martírio de amar o que não tem forma, o que não se concebe carnalmente, nem tem nome.
A via-crúcis, ou via dolorosa do deus, torna-se a via dolorosa de sua amante, a poeta. Quem já amou sabe: toda paixão é, em si, uma experiência mútua de dor e sacrifício. E é assim que, adentrando os mistérios gozosos de Hilda, nos deparamos com um sujeito lírico que solicita respostas diante de uma dor que também é uma espécie de amor. Deus é confrontado o tempo todo a respeito de sua insólita forma de demonstrar e exigir amor: “Pés burilados/ Luz-alabastro/ Mandou seu filho/ ser trespassado/ Nos pés de carne/ Nas mãos de carne/ No peito vivo. De carne”. (poema I, p. 13)
A conversa da poeta com o Sem Nome, ou sua reflexão sobre ele, é dura, dolorida, sedenta por respostas advindas desse deus contraditório. E o conflito apenas aumenta quando a poeta mostra do que se alimenta esse deus, o que nos leva a perguntar se se trata de uma divindade ou de um monstro a gerir o tosco destino dos humanos. Entretanto, compreendendo a disparidade de forças, a poeta se apequena diante desse ser que, na definição de Rudolf Otto, por pertencer à ordem do irracional, “não pode ser explicitado em conceitos, somente poderá ser indicado pela reação especial de um sentimento desencadeado na psique”.[8] Pisar no terreno do sagrado é adentrar uma zona de perigo. A poeta sabe disso, mas penetra a sarça ardente, não tomada por uma fé cega pelos ensinamentos de um catecismo, mas repleta da possibilidade de mergulhar na esfera íntima do desconhecido: “Cantando e dançado, digo:/ Meu Deus, por tamanho esquecimento/ Desta que sou, fiapo, da terra um cisco/ beijo-te pés e artelhos”. (poema I, p. 15)
Hilda apresenta Deus como “um sedutor nato” (poema II, p. 17). A poeta substitui o amor divino por divino humor, reconhecendo-se tralhas dele. (poema III, p. 19), aquele que, quando deveria usar as mãos para afagar, utiliza-as para dar coronhadas. No mínimo, uma estranha forma de demonstração do amor. Contradizendo o credo cristão, que celebra um deus que se faz pão e vinho para saciar a fome dos homens, aqui é deus que tem fome do humano, que o devora e o torna uma “Fera doente” (poema III, p. 19). A esse deus, que quer ser o dono de tudo, inclusive do homem, a poeta entoa um acalanto, uma cantiga de ninar, para que ela possa, por um instante, ficar em liberdade: “O Senhor do meu canto, dizem? Sim/ Mas apenas enquanto dormes./ Enquanto dormes, eu tento meu destino/ do teu sono/ Depende meu verso minha vida minha cabeça”. (poema V, p. 23)
Hilda apresenta um deus que parece corporificado, ainda que frio, magro, de cara insípida e silencioso. Essa frieza aguda se opõe à quentura da poeta, sedenta de palavras, misto de “piedosa, erudita, vadia”, ou uma mística que gastaria todo o tempo do mundo nessa procura sacrificial. Pois é exatamente essa sensação de ausência que torna a vida uma eterna busca. Não há aí uma aceitação tácita da existência do outro. É, antes, um desejo irrefreável para que o outro exista e a preencha. Eis a maldição da poeta, ansiar um gozo, advento de um mistério a ser revelado, contentar-se com migalhas de possibilidades.
Possivelmente o leitor pergunte por que esses poemas se inserem na dimensão do erótico, uma vez que sequer tocam o obsceno. É preciso ter claro que o erótico não se confunde sempre com palavras de baixo calão, nem se refere ao ato sexual propriamente dito ou a designações lascivas. Eros caminha pelas veredas tortas, e faz questão de tornar tudo turvo. Assim, a linguagem de Eros, também sinuosa, é cheia de nuances, ora desnudando por inteiro os corpos, ora tocando as zonas erógenas do prazer, ora apenas insinuando um desejo. Tudo, entretanto, se insere na zona do prazer, que às vezes se confunde com a dor. Em matéria de pulsão, quem é capaz de identificar o espectro de cores do desejo? Mas essa erótica que aqui se desenvolve está mais próxima das experiências arrebatadoras dos místicos. Pelo sofrimento e pela pequenez se deseja alcançar o Nume. A história dos santos católicos está repleta de homens e mulheres que se entregaram a um gozo pela dor, quase uma atitude masoquista. Gozar nesse mistério pressupõe deixar-se dominar pelo furor do sadismo divino: “É rígido e mata/ Com seu corpo-estaca. /Ama mas crucifica”. (poema VII, p. 29)
Que teria esses poemas para serem chamados de malditos pela própria poeta? Possivelmente a maldição que eles encerram é a impossibilidade do amado se encarnar diante da amada que, inconsolável, precisa tornar o deus algo palpável e só consegue uma nesga dele na palavra de sua poética. Por isso, não se pode fazer uma leitura aqui cristãmente, porque corre-se o risco de deturpar a ideia muito particular do sagrado. Também é preciso lembrar daquilo que Nietzsche, um dos maiores críticos do cristianismo, falou a respeito da castração das paixões pela Igreja, quando ela própria insistia na paixão do filho de Deus que leva à morte.
Nietzsche diz: “Não se pergunta jamais: Como se espiritualiza, embeleza e diviniza um desejo?”.[9] Essa crítica põe em questão a contraditória ideia de amor que se prega no cristianismo, ou seja, a noção de que amar é uma ação que pressupõe a aniquilação do desejo do corpo em face do desejo pelo incorpóreo. E por isso, o filósofo vai definir amor como “a espiritualização da sensualidade”.[10] Por esse viés, os místicos, os loucos e os poetas estariam mais próximos desse amor que aqueles que se dizem cristãos? Talvez. Sentir o sagrado no corpo e na palavra não seria comungar dessa espiritualidade de que fala Nietzsche? Também Teresa d’Ávila, no Livro da vida refere-se à experiência de arrebatamento como um prazer pela dor ao mesmo tempo corporal e espiritual: “Por que aquela dor parece, ainda que a alma a sinta, ser em companhia do corpo. Ambos participam dela, parece, e não é com um desamparo tão extremo quanto nesta, para a qual – como disse – não contribuímos”.[11]
Os vinte e um poemas do livro podem ser lidos como orações, súplicas e cânticos de um eu que ama o que não entende porque não tem forma, nem corpo, nem nome. Hilda elabora um devocionário onde vida e morte, prazer e dor, lucidez e loucura se irmanam em oximoros. Deus é isso mesmo: um paradoxo. E tudo o que possa vir dele está coberto por uma aura de irracionalidade que a teologia chama de mistério, e que Rudolf Otto designou por “numinoso”, ou “um ineffabile [‘indizível’] na medida em que foge totalmente à apreensão conceitual”.[12] Por isso, Deus, ou o sagrado, só pode existir na palavra de quem o procura. Alimento que não mata a fome de ninguém, na poesia de Hilda Hilst, a ideia de Deus é o próprio desejo, e ela se radicalizará na sua prosa, quando a angústia alimentará a paranoia dos personagens.

Hilda Hilst se ressentia da falta de leitores; lamentava o fato de que poesia não se vendia. Foto: divulgação
Mistério encarnado em prosa
Os narradores da prosa de Hilda Hilst, geralmente paranoicos, monologam sobre a interferência do sagrado em suas vidas e parecem se queixar também dessa falta de tato de Deus para com eles. São loucos extremamente lúcidos que, atormentados por vozes interiores e exteriores, inclusive a voz de Deus, se lançam numa reflexão sobre vida, morte, amor, destino e desejo. O texto polifônico, de difícil demarcação das vozes, torna a leitura dessa prosa um problema, ao mesmo tempo em que pressupõe uma disputa discursiva. Quem está com a razão? Quem está falando agora? Sem fazer concessão, é como se Hilda jogasse o leitor na consciência do personagem para que testemunhasse com seus próprios olhos os fantasmas que atormentam o sujeito.
O Deus de Hilda se coloca a serviço de uma constante conspiração contra o homem, confundindo-se, inclusive, com as instituições de poder masculinas da sociedade (o pai, o marido, o homem). Parágrafos com pontuação escassa, diálogos entrecortados que se confundem e se mesclam, pouca ou nenhuma demarcação das vozes, a não ser por vocativos imprecisos: é assim que o texto de Hilda se apresenta, como uma enxurrada do pensamento em ebulição.
Em A obscena senhora D (1982), após a morte do marido, a sexagenária Hillé se isola e escolhe o vão da escada como habitat. Então, numa disputa de vozes – a sua, a do marido morto, a dos vizinhos, a do Porco-Menino -, a loucura de Hillé apresenta uma reflexão sobre o amor devotado a Ehud, o esposo, agora uma voz fantasmagórica que tenta impedi-la de mergulhar mais fundo na loucura do entendimento à procura de respostas sobre o sagrado. A memória da voz do marido interrompe o pensamento de Hillé a todo instante para questioná-la a respeito de uma vida devotada a descobrir a divindade. Tudo converge para a negação, por isso o D. de derrelição não é uma palavra qualquer, visto que a loucura de Hillé é a própria concretude do abandono de si e do mundo: “D de Derrelição, ouviu? Desamparo, Abandono, desde sempre a alma em vaziez, buscava nomes, tateava cantos, vincos, acariciava dobras, quem sabe se nos frisos, nos fios, nas torçuras, no fundo das calças, nos nós […]”. (A obscena senhora D, 2001, p. 17-18)
A nudez de Hillé, acompanhada de palavras de baixo calão proferidas contra a vizinhança, também reflete o desnudamento do ser, porque nada mais importa senão a desmesura. Hillé se animaliza; agora é humana que, rebaixada à condição animal, uma porca cinzenta ou ruiva, não perde o tino perscrutador, ao contrário, ele só se intensifica. E, é assim, na figura de um porco, que o deus se manifesta a Hillé, Porco-Menino. Rebaixado, à natureza de um animal irracional associado à sujeira, o Deus-Porco tem mais a ouvir do que a falar, e quando o faz, se reconhece “sujo, entre os ossos, num vazio escuro”, evidência de que o criador se assemelha à criatura e não o contrário. Essa afirmação é logo corroborada por Hillé, a porca da casa, num discurso que se repetirá em outras prosas e que consiste em apresentar como morada do divino o lugar mais sujo, escondido e abominável do corpo: “[…] também lavei Ehud no fim algumas vezes, sovacos, coxas, o escuro buraco, sexo, bolotas, Ai Senhor, tu tens igual a nós o fétido buraco?” (A obscena senhora D, 2001, p. 45)
A nudez de Hillé, a exposição crua de seu corpo e de suas palavras, escandaliza os vizinhos, se aproximando da interpretação que Freud faz do relato do senhor Schreber. Beatitude divina e necessidade de gozo estariam no cerne da doença nervosa de ambos, por isso a insistência do sagrado associado ao imundo e ao sujo no discurso delirante. Na prosa de Hilda, há uma louca numa disputa com vozes de mortos (o marido, o pai) e vozes de uma divindade travestida num Menino-Porco.
Apresentar Deus naquilo que é mais reprovável também aparece em Estar sendo, ter sido (1997), quando, na iminência da morte e do delírio, o velho Vittorio faz uma revisão da vida e, obcecado com a possibilidade da fuga do Deus que o habita, pede que a empregada procure vestígios do divino numa parte do corpo que jamais imaginaríamos que Deus pudesse habitar:
[…] sabe, Rosinha, ele está aí dentro, estou sentindo
onde seo Vittorio, onde?
No meu cu, idiota, ah, está bem, não chora, já vi que você não entende nada de deus, eu precisava é falar com Dom Deo, mostrar-lhe o único buraco aqui na Terra onde deus habita. (Estar sendo, ter sido, 2006, p. 101-102)
Ora, embora o relato seja escatológico, não há por que ter nojo de uma parte do corpo que também é obra divina, e, se o deus habita o homem, decerto estará em qualquer parte do seu corpo. O ato de defecar, considerado tão ofensivo e baixo que até o verbo não aparece completo no relato, é invertido para uma ação grandiosa do homem, feito à semelhança de Deus. A pergunta que surge diante desse relato é: Deus teria cu, bunda, órgão sexual, evacuaria e mijaria?
A novela Com meus olhos de cão começa e termina com a sentença “Deus? uma superfície de gelo ancorada no riso”. Amós Kéres, 48 anos, um professor de matemática pura, após uma experiência epifânica (ou paranoica) na qual é atravessado por um Sol inexplicável, se vê envolto num estado de devaneio que o faz abandonar mulher, filhos, emprego e passa a viver no quintal da casa da mãe, comportamento semelhante ao de Hillé. Enquanto A obscena senhora D é escrita em primeira pessoa, com interrupções de outras vozes em supostos diálogos, Com meus olhos de cão é escrita num discurso de terceira pessoa atravessado por vozes do presente e do passado de Amós em primeira pessoa. A paranoia de Amós vai culminar numa série de reminiscências da infância cujo cerne é a figura impaciente e aniquiladora do pai.
E a primeira experiência dolorosa será justamente diante da morte, quando o pai denomina a atitude do filho de idiotia, se utilizando, inclusive, de gestos obscenos, cena que será um dos motivos (talvez o mais remoto) da escolha do personagem pelos números em detrimento das palavras. A ideia do pai se aproxima da ideia de anulação, ou ainda, da própria morte. Outra reminiscência da infância demonstra o sentido negativo que o pai vai exercer sobre o homem Amós. O pai passa a ser uma espécie de deus vingativo, que age de modo muito cruel e decide o que deve permanecer vivo e o que deve ser exterminado. É nesse sentido que o pai se aproxima da figura divina, no que ambos teriam de frieza diante da dor do outro. Para Amós, o pai e Deus só poderiam mesmo ser “Uma superfície de gelo ancorada no riso”. O que essa definição sugere é que o riso do justiceiro tem traços de crueldade. Ri-se do outro, não com o outro; ri-se da certeza de que a criatura não pode contra os sortilégios do criador.
Por fim, esse percurso sobre a obra de Hilda Hilst e o seu grande tema, seja em prosa ou verso, lembra a parábola do louco narrada por Nietzsche no livro II de A Gaia Ciência. Os loucos, os poetas e os santos têm em si uma mesma natureza, tem consciência de sua descontinuidade, querem-na, perseguem o vazio, buscam retratar aquilo que não compreendem, e não têm receio do modo como serão entendidos. O louco de Nietzsche é aquele que numa manhã de muito sol acende uma lanterna e corre até o mercado dizendo: “Estou procurando Deus! Estou procurando Deus”. Motivo de risadas dos incrédulos, o louco houve perguntas e não respostas:
“Será que alguém o perdeu?”, perguntou um deles. “Será que ele se perdeu, como uma criança?”, disse o outro. “Ou está escondido?” “Está com medo de nós? “Embarcou em algum navio?” “Emigrou?” Assim, elas ficaram gritando e rindo, numa grande confusão. O louco saltou no meio delas e lançou-lhes olhares penetrantes. “Para onde foi Deus?”, gritou ele, “eu o direi a vocês! Nós o matamos! – vocês e eu! Todos nós somos seus assassinos! […] Ainda não escutamos o barulho dos coveiros que enterraram Deus? Não sentimos ainda o cheiro da deterioração de Deus? Os deuses também deterioram! Deus está morto! Deus permanece morto![13]
Deus morreu, as igrejas são sua sepultura, disse o louco, depois de atirar sua lanterna ao chão e entrar nas igrejas para entoar um réquiem aeternam para o morto mais famoso da história. Tal como o louco de Nietzsche, os loucos de Freud e os de Hilda Hilst acendem suas lanternas no clarão do dia para sair à procura do Deus, aquele que é um incompreensível e, ao mesmo tempo, inapreensível desejo.
Referências
BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
D’ÁVILA, Santa Teresa. Livro da vida. Tradução de Marcelo Musa Cavallari. São Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2010.
FREUD, Sigmund. Observações psicanalistas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia (“o caso Schreber”), artigos sobre técnica e outros textos (1911-1913). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010a.
_______________. “Além do princípio do prazer”. Em: História de uma neurose infantil (“o homem dos lobos”), além do princípio do prazer e outros textos (1917-1920). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010b.
HILST, Hilda. Poemas malditos, gozosos e devotos. São Paulo: Globo, 2005.
____________. Estar sendo, ter sido. São Paulo: Globo, 2006.
____________. Fico besta quando me entendem: entrevistas com Hilda Hilst. Cristiano Diniz, (org.). São Paulo: Globo, 2013.
_____________. Com meus olhos de cão. São Paulo: Globo, 2006.
_____________. A obscena senhora D. São Paulo: Globo, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução Inês A. Lohbauer. São Paulo: Martin Claret, 2016.
OTTO, Rudolf. O Sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. Tradução de Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.
[1] Essa é uma versão reduzida de um capítulo que compõe o livro 15 erros de eros: ensaios de literatura, vida e outras artes, a ser lançado no segundo semestre de 2018 pela editora Porto de Ideias.
[2] Entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira, do Instituto Moreira Salles, concedida em 1999 e publicada em Fico besta quando me entendem, 2013, p. 197.
[3] Entrevista concedida a Caio Fernando Abreu, em 1987. Em: Fico besta quando me entendem, 2013, p. 99.
[4] Embora apareça essa palavra no ensaio de Jaa Torrano sobre a Teogonia de Hesíodo, deve-se o seu uso ao alemão Rudolf Otto, na obra O Sagrado. Nesse caso, Numinoso é derivado de nume, aquele que não tem nome porque é, ou seja, a própria condição do inominável, o Nome propriamente dito.
[5] Alcir Pécora, Prefácio a Com meus olhos de cão, p. 7.
[6] Op. Cit., p. 97.
[7] “A santidade, o erotismo e a solidão”. Em: O erotismo, 2013, p. 278-291.
[8] Rudolf Otto, 2007, p. 44.
[9] Nietzsche, 2017, p. 40.
[10] Ibid., p. 41.
[11] Teresa d’Ávila, 2010, p. 180-181.
[12] Rudolf Otto, 2007, p. 37.
[13] Nietzsche, 2016, p. 212-214.