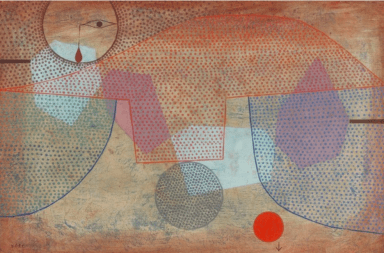Marcelo Moutinho vem se consagrando como um dos contistas mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Ele faz parte de um grupo significativo de autores que passaram a publicar a partir dos anos 2000, e que mudaram, consideravelmente, a forma de atuação na cena literária. A trajetória destes autores coincide com a valorização dos eventos literários no mercado cultural e com a ampliação do uso da Internet para divulgação literária e contato com os leitores. A partir dos anos 2000, a tradicional distância entre autor e leitor e autor e autor se reduziu e os autores que estrearam neste período foram moldando as melhores práticas para estas novas formas de divulgação, produções coletivas e recepção das suas obras.
No ano passado, Moutinho venceu o Prêmio Clarice Lispector, da Biblioteca Nacional, com o livro de contos, Ferrugem (Editora Record). Livro que foi definido pelo escritor Antônio Torres, “como uma suíte para o homem comum”. Além de escritor, Moutinho também foi organizador de coletâneas de narrativas curtas e eventos literários em bibliotecas, participou da campanha para enriquecimento do acervo da biblioteca comunitária da Maré, além de participar de diversos tipos de eventos literários que buscam promover a literatura. Este ativismo em prol da literatura também pode ser percebido em outros autores da “geração 00”.
Nos conhecemos neste território das ações de promoção da leitura e da literatura, em eventos de mediação da leitura que venho produzindo ao longo de tantos anos. E, a partir das percepções que tenho da sua obra, do que li e ouvi de seus outros leitores, inauguramos com esta entrevista o espaço que a Biblioo vai dedicar para entrevistar escritores e mediadores da melhor literatura.
Moutinho, lembro que a primeira referência que tenho de você é da coletânea Prosas Cariocas, de 2004, organizada por você e pelo Flávio Izhaki, editada pela Casa da Palavra. Eu gostei muito do livro e tive a impressão de que a coletânea apresentava uma geração de novos escritores cariocas. O Nelson Oliveira tinha lançado o Geração 90 (Boitempo Editorial), em 2001, focado mais em São Paulo. O que levou você a organizar o livro?
Uma das razões de o Prosas Cariocas ter nascido foi justamente a antologia organizada pelo Nelson de Oliveira. Geração 90 teve grande importância por revelar que havia, sim, uma nova cena literária no país, quebrando certa impressão de marasmo na área. O Prosas surge na esteira da formação dessa nova cena no âmbito do Rio de Janeiro, ali pelo começo dos anos 2000, com a popularização dos blogs e o aparecimento de sites como o Paralelos. O crescimento do acesso à Internet permitiu que autores que até então viviam atomizados, ou seja, quase não tinham contato ou diálogo com seus pares, passassem a viver em um ambiente de troca. Uma troca produtiva e muito estimulante. Foi nesse contexto que um dia, conversando com o Flávio Izhaki, veio a ideia de lançar uma coletânea sob a forma de livro. Queríamos reunir parte dos autores que integrava a renascida cena literária carioca. E o mote dos bairros – cada um teve que escrever um conto ambientado num bairro da cidade – tinha o objetivo de reforçar essa perspectiva. A de que havia uma nova geração de escritores fazendo ficção de qualidade. Aqui e agora (lá se vão 14 anos…).
Hoje, observando a trajetória de muitos escritores que estiveram nestas coletâneas, a palavra geração faz sentido para se pensar neste grupo de autores? Caso faça, o que caracteriza esta geração?
Observando a trajetória dos que participaram do livro, fico feliz ao ver que a maioria se consolidou. À época já mais conhecidos, Adriana Lisboa e João Paulo Cuenca são, hoje, nomes importantes da literatura brasileira. Henrique Rodrigues publicou seus poemas, enveredou pela literatura infantil, lançou um primeiro e ótimo romance. Juva Batella, Mariel Reis e Vinicius Jatobá também continuam dando tratos à bola, com narrativas longas e contos. Assim como Cecilia Giannetti, Antonia Pelegrino, Mara Coradello e Ana Beatriz Guerra. Outros autores, embora não tenham insistido na ficção, permanecem próximos ao mundo do livro. Miguel Conde foi repórter de cultura e curador da Flip. Hoje é crítico e ensaísta. Sidney Silveira é editor. Bianca Ramoneda manteve suas relações com o teatro e virou apresentadora de TV. Marcelo Alves dá aulas de literatura. Só mesmo o Augusto Sales, que idealizou o site Paralelos, parece ter se mantido longe das letras.
Quanto a identificar uma característica que defina essa geração, diria que a principal marca é, paradoxalmente, a falta de uma marca. Ou, falando de outro modo, é a variedade temática e estética. Acho isso ótimo.
Em 2001, você lançou o livro Memória dos barcos, pela 7Letras, o livro está esgotado. Podemos considerá-lo como seu livro de estreia? Como você avalia hoje este livro dentro da sua trajetória literária?
Considero o Memória dos barcos, de 2001, meu livro de estreia. Claro que há, nele, as flutuações de estilo e qualidade típicas de um trabalho inaugural. Mas entendo que foi um passo importante, tanto para começar a “matar” os “pais literários”, quanto para repensar caminhos.
Quatro anos depois, em 2006, você lançava Somos todos iguais nesta noite (Rocco), que já no título indica uma característica da sua obra que é um “flerte” com a música, mais especialmente com a MPB. Esta relação vai aparecer em outros títulos, contos e crônicas, o que me fez, erroneamente, pensar imediatamente na letra Rota do Indivíduo, do Djavan, ao saber que o título do seu mais recente livro seria Ferrugem. É um processo natural? No seu processo de escrita, quando a música e as letras começam a dialogar com os seus textos?

Capa de “Somos todos iguais nesta noite” (Rocco). Imagem: divulgação
Esse flerte com a música, que você bem observa, é consequência natural de uma paixão pelo tema e está presente em todos os meus livros. Sou profundamente ligado à música brasileira, e tudo aquilo que faz parte da minha vida tende a aparecer, de alguma forma, na produção literária. Não acredito em literatura, nem em nenhuma arte, descolada da vida. Em alguns casos, como “Cavalos-marinhos” (inspirado em “Vento no litoral”, da Legião Urbana), “Para ver as meninas” (inspirado no samba homônimo de Paulinho da Viola) em “Três apitos” (idem quanto ao samba-canção de Noel Rosa), os contos dialogam diretamente com canções. Em outros, como em “Dezembros”, a ligação é mais tênue, passando pela história da Rádio Nacional. Vale dizer que esses textos não pretendem “recontar” a música, mas, a partir dela, imaginar tramas.
Quanto ao Ferrugem, o título nasce de dois versos do poema “Cartão de Natal”, do João Cabral de Melo Neto. “E possa enfim o ferro / Comer a ferrugem”, dizem os versos, que propõem uma inversão no processo natural da corrosão. Como os contos do livro tratam justamente desse embate entre vitalidade e corrosão, achei que a palavra “ferrugem” seria capaz de dar uma visão global para os 13 contos.
Os contos de Somos todos iguais nesta noite parecem tão trabalhados, o livro é tão redondo, que passa a impressão de que foram muitos anos trabalhando aqueles contos. Como foi o processo de criação do livro? Quanto tempo você levou até ter todos os contos prontos? Existiu um conceito que deu sentido à criação, seleção e organização dos contos?
Foram quatro anos de trabalho. Não gosto muito de seletas de contos que simplesmente reúnem a produção recente do autor, sem que haja um motivo para que aquelas histórias estejam juntas num volume. Então, tanto em Somos todos iguais nesta noite, quanto nos meus demais livros, parto sempre da premissa da busca por organicidade. Quero que exista um tema, ainda que abstrato, pairando sobre os textos da seleta. Penso o livro como um todo, e não como mera junção de contos.
Infância e memória aparecem no livro Somos todos iguais nesta noite com muito lirismo, e encontramos também personagens infantis apresentados com o mesmo cuidado e prosa poética em seus outros livros. A infância é um período em que estamos muito disponíveis para captar as delicadezas da vida. Este período da vida é uma fonte de inspiração especial para sua literatura?
Sem dúvida. Me interessa muito trabalhar com o universo da infância, assim como o da velhice. Talvez porque sejam dois momentos à flor da pele, em que o olhar para o mundo é quase virgem – mais suscetível a descobertas – ou guarda a potência metafísica da proximidade da morte.
A paternidade certamente mudou minha forma de olhar o mundo e trouxe, sobretudo, uma maior preocupação com o futuro. Passei a pensar de modo mais planejado, já que tenho uma pessoazinha (a mais incrível que já conheci) para cuidar. Lia também reconfigurou os meus espantos. Viver com uma menina de três anos é restaurar a capacidade de se assombrar com as coisas aparentemente mais ordinárias. A gata comendo uma lagartixa, o novo sabor de um sorvete, o som de uma palavra.
Destes contos, que se passam na infância, eu gostaria que você comentasse o conto “Menino no escuro”, (utilizei este conto durante anos em clubes de leitura e os leitores ficavam muito impressionados com a narrativa) que está na antologia Contos sobre a Tela (Pinakotheke, 2005) e em Somos todos iguais nesta noite.
“Menino no escuro” nasce de um quadro do Iberê Camargo, artista que eu adoro. Iberê pintou “Tudo te é falso e inútil II” em 1992, já próximo da morte. E o conto trata, igualmente, de desaparição. Aos poucos, as coisas vão sumindo diante do garoto que o protagoniza. É uma alegoria da morte, essa que inexoravelmente nos colherá a todos em algum momento.
Eu considero o livro A palavra ausente (Editora Rocco) o seu livro mais complexo e interessante, a coragem com que você mergulha nestes, citando a escritora Conceição Evaristo, “mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra”, e o que você traz deste mundo e nos entrega como literatura é realmente emocionante. Percebi também um aprimoramento na estrutura dos contos, na forma de contar. Enfim, tudo é belo em A palavra ausente. Gostaria que você comentasse como foi o processo criativo do livro e citasse alguns contos que mais o emocionaram ao escrever, ou quando você relê.

Capa de “A palavra ausente” (Rocco). Imagem: divulgação
A palavra ausente é resultado de uma sequência de perdas que experimentei nos anos anteriores ao lançamento do livro, sobretudo a do meu pai. Não à toa, a seleta é aberta com o conto “Água”, talvez aquele que mais fortemente esteja ligado à minha vida pessoal. O narrador dá banho no pai que, doente, já não consegue mais cumprir as tarefas cotidianas. Esse conto reflete uma situação que eu vivi, de fato. E saiu de uma vez só, quase não houve retrabalho.
“Dindinha”, que aborda igualmente a doença como prenúncio do fim, é outro que me emociona a cada releitura. Em contrapartida, alguns pediram um insistente retrabalho, como “Céu”, “Um cartão para Joana” e “Dona Sophia” – escolhi esse conto para o fecho como uma espécie de profissão de fé no poder da palavra contra o perecimento.
Embora cada uma aborde o tema sob um aspecto, é a questão da perda que amalgama as dez histórias. O que é sugerido já no título, cuja ambiguidade é proposital: refere-se à palavra no sentido de vocábulo (“ausente”), mas também à palavra que falta. Talvez por isso o livro seja cheio de espaços vazios, desses mundos submersos aos quais a Conceição faz referência.
Lembro de ter comentado com você que fiquei com a impressão que o livro não repercutiu como merecia…
A palavra ausente, como você bem pontua, foi meu livro com menor alcance comercial. Torço para que algum dia seja redescoberto. Mas se tem algo que aprendi em quase vinte anos de trajetória literária é que devemos tocar nosso trabalho independentemente de expectativas cumpridas. A caminhada de um escritor é devagar e sempre. E, se as coisas não saem como esperado, vale retornar ao momento inicial e se perguntar: por que, afinal, você começou a escrever? Embora todo autor queira ser lido, evidentemente, a resposta não se funda no aspecto contábil. As razões originárias são outras.
Gostaria de falar um pouco sobre divulgação e recepção. Como você acha que sua obra é apreendida pelos seus leitores?
Em geral, os livros são bem recebidos por quem os lê. A dificuldade é mesmo fazer com que cheguem até o leitor. Infelizmente, na absoluta maioria de eventos literários que acontecem no Brasil a prática da leitura do texto por parte de seu autor é uma exceção. E muitas vezes essa leitura representa o primeiro contato do público com a literatura daquele escritor. Ou seja, serviria como uma porta de entrada para o universo dele — seu estilo, seus temas e enredos.

Marcelo Moutinho. Foto: Léo Aversa
Pesquisas como Retratos da Leitura sempre traçam um cenário desolador em relação ao interesse dos brasileiros em leitura literária. No entanto, tive o prazer de produzir diversos eventos literários tendo você como convidado, clubes de leitura, festas literárias, encontros literários em escolas e ongs, e a recepção para a leitura dos seus textos é totalmente empolgada e positiva. Então o que é preciso para unir estes dois mundos, de quem gosta de ler e não lê e dos textos literários que estão sendo produzidos? Como aumentar o número de leitores?
Eis o grande nó da literatura brasileira hoje. Sem querer ter respostas prontas, imagino que uma saída é tentar escapar da bolha. Como o país não tem um público leitor expressivo, ao menos se consideramos a totalidade da população, o universo de quem define o que deve ou não ser lido está restrito a um pequeno grupo (e falo isso sabendo que, ainda que um tanto marginalmente, faço parte dele). Isso cria um sistema viciado, em que escritores muitas vezes escrevem para o gosto médio de curadores, críticos etc. Os que definem. De minha parte, tenho procurado cada vez mais dialogar com quem está fora da bolha. Com aqueles que apreciarão ou não um texto pelo que o texto é, e não pelo espaço que conquistou em tal jornal ou revista especializada. Inclusive porque, desconfio, meus contos e crônicas trabalham com temas que não são os preferenciais da maioria dos que compõem a chamada elite crítica da literatura brasileira.
No ano passado, você venceu O Prêmio Literário da Biblioteca Nacional com o livro de contos Ferrugem (Editora Record). O que muda ao vencer um prêmio como este? Aumenta o interesse na obra e os convites para eventos literários? Este ano, a Record se desculpou por não ter inscrito o mesmo livro no Prêmio Oceanos.
Aumentou um pouco o interesse na obra. Mas o impacto não é tão grande como se imagina. Ainda mais quando se trata de uma premiação no gênero conto, ainda visto – infelizmente – como “menor” por editoras e mesmo pela imprensa especializada. As manchetes sobre os vencedores do prêmio da Biblioteca Nacional confirmaram isso ao destacar a categoria romance.
Fiquei naturalmente triste com o episódio da não inscrição no Oceanos, mas a editora foi muito digna ao se desculpar de forma pública e o assunto está encerrado.
Você acha que os prêmios que existem no Brasil dão conta da diversidade da nossa literatura?
Os prêmios de modo geral, também acabam privilegiando o romance. O Prêmio São Paulo de Literatura, por exemplo, usa o termo “literatura”, mas não abarca nem a poesia, nem o conto, nem a crônica. O Prêmio Rio de Janeiro abarca, e até criou uma categoria específica para a poesia, mas mantém as narrativas curtas misturadas ao romance. O Oceanos, no qual havia a divisão nos tempos em que se chamava Portugal Telecom, hoje avalia conjuntamente os livros de todos os gêneros. O resultado é que a avaliação quase sempre considera o romance como um trabalho mais significativo, independentemente da qualidade da obra em si. Acho complicado comparar, num concurso, livros de gêneros diferentes. E, num cenário de claro privilégio para a narrativa longa, essa comparação costuma pender sempre para o mesmo lado.
“Há hoje uma tremenda confusão — que nasce da ignorância, mas muitas vezes também da má-fé — entre narrador e escritor, eu-lírico e poeta, pintor e pintura – confusão que, diga-se, não é privilégio dos setores da direita.” Marcelo Moutinho
Estamos em um ano eleitoral em um cenário em que uma parcela significativa da população comprou um discurso de desqualificação das artes e dos artistas, da inteligência e de elogio da ignorância. Em momentos cruciais na nossa história, a participação de intelectuais, escritores e artistas de diversas artes foram essenciais para se pensar o país e enxergar além, buscar novos caminhos. Como você vê este desprestígio e até um tipo de ódio à classe artística?
Vejo com tristeza. Você acerta ao afirmar que parte da população “comprou” esse discurso. Porque ele é mesmo parte de uma tática de guerrilha levada a cabo por grupos que pretendem marginalizar as artes e os artistas. E, talvez o pior, desqualificar a obra a partir de X ou Y posicionamento político de seu autor. Isso quando muitas vezes são coisas distintas. Há hoje uma tremenda confusão — que nasce da ignorância, mas muitas vezes também da má-fé — entre narrador e escritor, eu-lírico e poeta, pintor e pintura – confusão que, diga-se, não é privilégio dos setores da direita. Como diz a canção “Choro bandido”, parceria do Chico Buarque com o Edu Lobo, “mesmo que os poetas sejam falsos, como eu / Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções”. Sim, podem ser bonitas ainda que o poeta seja falso. Porque o poeta, como escreveu o Fernando Pessoa, é um fingidor. Todo artista, de certa forma, é.
Caso possamos pensar em um “papel do escritor” na sociedade. Como você vê o papel do escritor nestes momentos?
Quanto ao papel do escritor, como tal tenho procurado me manifestar em momentos graves, como foi o do golpe que destituiu a presidente eleita, Dilma Rousseff. Na ocasião, junto com editores, livreiros e outros autores, participei da organização de um abaixo-assinado que teve mais de mil signatários, entre eles escritores como Raduan Nassar e Milton Hatoum, pedindo respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Recebemos algumas críticas por supostamente termos nos colocado numa posição de maior importância quanto a outras categorias, o que vejo como uma acusação inconsistente e sem sentido. Acharia ótimo se todas as categorias – taxistas, garis, comerciários, veterinários, engenheiros, médicos – tivessem igualmente feito abaixo-assinados em defesa da democracia e contra o golpe. O zelo pela democracia não é papel do escritor ou do intelectual, mas de todo cidadão, qualquer que seja seu ofício ou sua profissão. E toda manifestação neste sentido é válida e importante.
Podemos pensar em relações entre literatura e política, mas preservando o que a literatura precisa ter de essencial?
Acredito que a literatura pode ser política sem ser panfletária. Literatura panfletária é, quase sempre, má literatura. Vejo o romance, o conto, o poema não como agentes de persuasão, mas de sobressalto. Acredito na literatura que desestabiliza, que olha o que quase ninguém está olhando, que busca o ângulo insuspeito. E isso é ser político. Penso na novela Enquanto os dentes, do Carlos Eduardo Pereira, que trabalha a questão da acessibilidade sob uma história profundamente original. Em Macumba, no qual o Rodrigo Santos cria uma trama policial cheia de elementos das religiões afro-brasileiras, tão ausentes da ficção contemporânea. Também nos poemas da Bruna Beber em Rua de padaria, iluminando o cotidiano de uma menina da Baixada Fluminense, ou no romance de formação O próximo da fila, do Henrique Rodrigues, que esquadrinha o sistema ‘neofordista’ de uma rede de fast-food sob a perspectiva de um de seus funcionários. São livros políticos e não panfletários. Tratam de temas que, no fundo, têm caráter político sem tentar convencer o leitor de nada. O panfletarismo é o oposto disso, ele quer certezas e reiterações.
Em 2006, quando você lançou o livro Somos todos iguais nesta noite, você disse que sentia saudade de uma “Madureira sem tanto verniz”. No seu livro de crônicas Na dobra do dia (2015 – Editora Rocco), podemos encontrar o bairro mais próximo da realidade de como você o percebe?
Se há um verniz em Na dobra do dia, é o do cronista. Talvez seja menos um verniz do que o natural filtro subjetivo do narrador em primeira pessoa. Minha relação com Madureira é uma relação de filiação. Se houve uma mudança radical nos meus contos a partir de Somos todos iguais nesta noite, foi justamente porque compreendi que queria falar do universo da classe média baixa, este que muitas vezes se vê espremido entre as histórias da alta burguesia, tão costumeiras, e as histórias da favela (universo que, felizmente, hoje é bastante abordado na literatura brasileira). Falar do indivíduo da classe média baixa, aquele cuja existência é aparentemente ordinária, tentando iluminar sua potência. Fugindo, portanto, da lógica habitual, que se encerra nas temáticas da violência e da falta de recursos. Minha premissa é imaginar histórias – ficcionais – que tratem de outras questões. De dores e também delícias, de encontros e perdas, de traumas e epifanias; em suma, da vida que escorre pelas ruas, cheia de vigor, apesar da violência, apesar da falta de recursos. Apesar de.
No livro Ferrugem eu tive a impressão de um autor que olha uma cena e, claro, muitas coisas podem estar acontecendo nesta cena, mas este autor está mais interessado no que não é central, no que é periférico, ele prefere dar um zoom para ouvir, perceber e contar a história dos que não estão sob o foco principal dos refletores. Até mesmo porque a vida é muito rica de sentido e emoções nas margens, nas sombras, no que não é tão evidente. A imagem do Gandula (terceiro conto do livro) é muito ilustrativa neste sentido. Como foi o projeto do livro? O que você se propôs a contar e como?

Capa de “Ferrugem” (Rocco). Imagem: divulgação
Ferrugem reflete a experiência em escrever crônicas por quase cinco anos para o site Vida Breve. Esse interesse no que não é central tem muito do olhar do cronista. Nos 13 contos, os protagonistas são as chamadas “pessoas invisíveis”. Uma caixa de supermercado, uma cobradora de ônibus, o rapaz que sonhava virar craque do futebol, mas acaba como gandula. Todos, claro, personagens ficcionais. Mas, talvez pela verossimilhança com a vida fora dos livros, vários leitores me perguntam se os conheci em algum lugar. Fico feliz com essa pergunta, já que a ideia era mesmo contar histórias do indivíduo sem glamour, aquele com o qual esbarramos no dia a dia sem imaginar o que fez no passado, se guarda uma mágoa de amor ou um projeto frustrado, o que espera do amanhã. O querido amigo e grande escritor Antonio Torres definiu bem o livro quando disse, evocando a composição musical, que Ferrugem é uma “suíte para o homem comum”.
A partir desses personagens – a cobradora, a caixa de supermercado, o gandula, o cover do Roberto Carlos —, as histórias do livro tratam, metaforicamente, da luta do ferro para não ceder à ferrugem, à corrosão trazida pelo decorrer do tempo. A alegoria reflete a queda de braço entre desejo e apatia, viço e cansaço. Um embate que inevitavelmente se dará em algum momento das nossas vidas. Ou em muitos deles.
______________________________________________________________________________________________________
RESENHA
Ferrugem – um livro Para Gostar de Ler
Enquanto lia o novo livro de contos de Marcelo Moutinho, entre um conto e outro, não conseguia deixar de pensar nos grandes escritores que me formaram como leitor, escritores que fizeram parte da coleção Para Gostar de Ler, lançada em 1977, pela editora Ática, por sugestão do escritor Affonso Romano de Santana. O objetivo era tonar mais popular a obra de autores como o cronista Rubem Braga. O primeiro volume trazia crônicas/contos de Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga.
Também foram publicados na coleção contos de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Teles, Ignácio de Loyola Brandão, entre outros grandes escritores de diversas fases do Modernismo. Talvez a sensação que acompanhou minha leitura se deva ao fato de Ferrugem ter sido gerado após um período em que o escritor se dedicou a escrever crônicas, impregnando o livro do olhar do cronista, olhar atento para a cotidianidade, para o aparentemente banal – como no delicioso conto “As praias desertas” — “Tampouco casei ou tive filhos, mas isso estava mesmo no projeto. Ah, sim: tenho um perfil nas redes sociais. Só não costumo publicar nada. Fico apenas vendo as pessoas fazendo coisas.”
No entanto, o grande trunfo do livro é conseguir a partir desta perspectiva de cronista, estruturar suas histórias como contos e abordar os dramas existenciais dos personagens, dando-lhes a grandiosidade que toda vida, por mais ordinária que pareça, carrega em si. Este cuidado com as subjetividades do homem comum — marca do projeto literário do autor —, é muito perceptível na resignação de João, no conto “Gandula”: “No dia seguinte, respondeu sim. Se a função de gandula lhe parecia sem prestígio algum, ao menos seria uma forma de estar no estádio, perto dos jogadores, da tensão de uma partida oficial.”
Inspirado em dois versos do poema “Cartão de Natal”, de João Cabral de Melo Neto “E possa enfim o ferro / Comer a ferrugem”, o livro de contos de Moutinho representa uma evolução na sua literatura, os contos pouco se parecem com os de Somos todos iguais nesta noite e de A palavra ausente. Menos dramáticos, trazem uma conjunção de estilos e sentimentos equilibrados com precisão, e uma amálgama conto/crônica prazerosa de acompanhar, sugerindo que no caso do projeto literário do autor, sim, o ferro vem comendo a ferrugem, renovando sua literatura e fortalecendo o repertório literário brasileiro. Um livro indispensável para leitores competentes e críticos, mas também um trunfo importante para gostar de ler, para formar leitores, para despertar o envolvimento pela leitura, dos que esperam por um livro que lhes tirem dos automatismos contemporâneos que os distanciam da boa literatura.