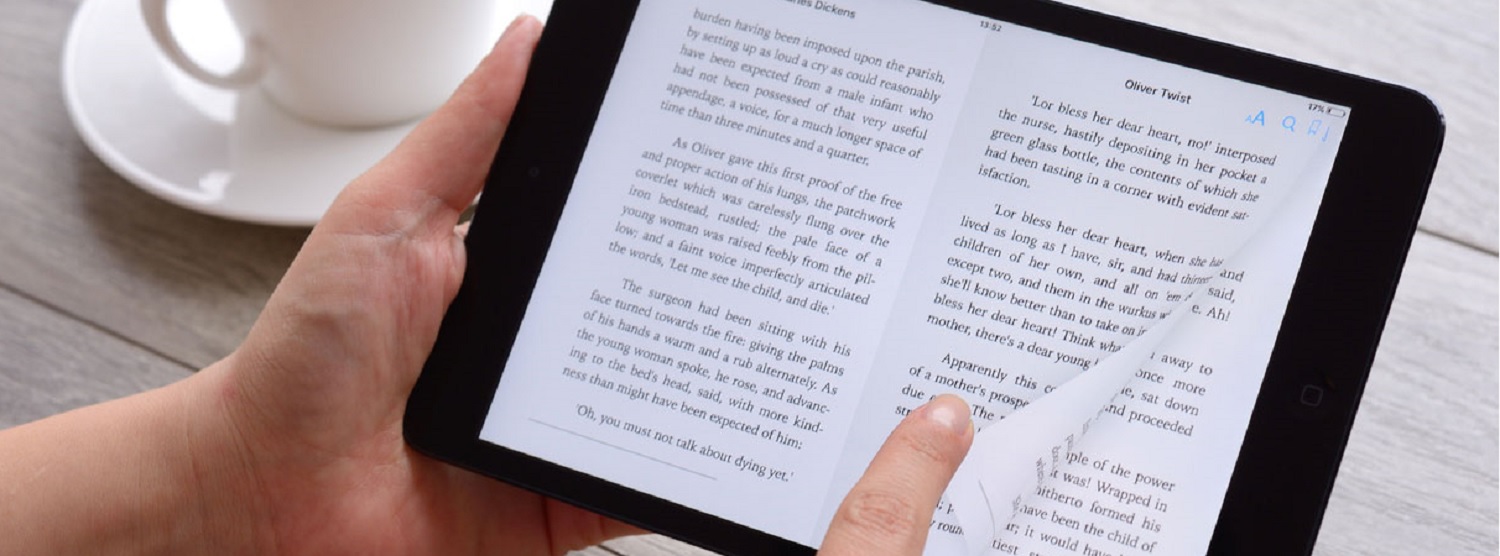Foto: Ana Cândida Carvalho.
“A felicidade era um pouco como voar, pensou, como ser uma pipa. Dependia de quanto barbante a gente dava…”
Fragmento do romance ‘Carol’, de Patricia Highsmith.
A canção “Girls just wanna have fun” (As garotas querem apenas se divertir) marcou profundamente a década de 1980, sendo considerada até hoje um dos símbolos de emergência da mudança do papel feminino na sociedade. Interpretada pela cantora norte-americana Cyndi Lauper, a música fala sobre um novo modelo de mulher: decidida, independente, que gosta de sair, se divertir e não tem interesse em ter sua vida limitada ao título de “rainha do lar”.
Lançada como um single, a canção foi sucesso imediato por refletir as mudanças históricas, sociais, culturais e comportamentais que a sociedade – especialmente a que estava inserida nos grandes centros urbanos – passou a receber e ter que lidar. Novos movimentos coletivos começaram a eclodir, escancarando as portas das angústias e insatisfações de vários grupos, entre eles, a militância feminista. Entre outras batalhas, o feminismo luta pelos direitos, reconhecimento e valorização das mulheres.
Mas os caminhos não foram e nunca serão fáceis e indolores. Como lembra Sócrates Nolasco em texto sobre o mito da masculinidade: “Sabemos que um projeto novo não nasce sem dor ou ainda da compatibilização com o que está estabelecido”.[1] Em décadas de rupturas, conflitos e dilemas, o corpo da mulher tem lutado por autonomia e liberdade, desafiando milênios de dominação patriarcal promovida por instituições familiares, religiosas e estatais. Silencioso como uma doença fatal, o massacre contra a figura feminina infiltra-se pelos poros, atinge as veias, golpeia o coração.
A intensidade do golpe atinge diferentes graus: pode ser físico, refletido na violência, nos abusos e estupros; pode atacar o psicológico feminino através de humilhação, calúnia, difamação, perseguição e tortura mental e, não raro, alcança a morte da vítima. Por muitos anos, as denúncias de violência foram abafadas, mas nunca esquecidas. Os relatos de abuso vêm percorrendo fontes históricas e escancarando a cortina de ferro que protegia agressores. A história das mulheres tem procurado reforço nas reivindicações, protestos e militâncias que começaram a surgir no começo dos anos 1970.
A historiadora francesa Michelle Perrot analisou o percurso histórico das mulheres no livro “As mulheres ou os silêncios da história”, onde, no capítulo 19, fala mais especificamente sobre “corpos subjugados”. Perrot traz à tona o fato do corpo da mulher ser continuamente explorado e não lhe pertencer, à medida que “na família, ele pertence ao seu marido que deve ‘possuí-lo’ com sua potência viril. Mais tarde, a seus filhos, que as absorvem inteiramente. Na sociedade, ele pertence ao Senhor”.[2] O despertencimento de si leva a mulher à condição de objeto, posse, patrimônio do pai, do marido e dos filhos.
No sistema feudal, baseado nas distinções de classe, as mulheres e filhas dos servos eram obrigadas a terem sua primeira noite (em latim jus primae noctis) com o senhor feudal. Tal “acordo” era legitimado pelo direito à primeira noite que o senhor das terras possuía, desvirginando toda mulher de camponês/servo que concebesse núpcias. Apesar de não ter sua existência comprovada por documentos oficiais, esse processo de coisificação feminina é retratado em pinturas, como o quadro “O direito do senhor”, de autoria do pintor russo Vasily Polenov, e mais recentemente no filme “Coração Valente” (original Braveheart, 1995), onde uma cena de jus primae noctis é apresentada no momento da festividade de casamento entre servos. A violência contra a mulher galopou com o tempo, abandonando os feudos para se instalar nas fábricas. Michelle Perrot destaca a rota de abusos promovida por industriais e mestres de corporações que sujeitavam as operárias as mais degradantes situações.
A escritora norte-americana Judith Rossner efetivou essa denúncia na obra “Emmeline”. A narrativa conta a história de uma adolescente que vai trabalhar no ramo fabril para ajudar no sustento de sua família e acaba se sujeitando à situações de exploração. A temática também é trabalhada por Victor Hugo, autor do clássico “Os Miseráveis”, através das personagens Fantine e Cosette, mãe e filha, respectivamente. Na rota de maus-tratos, as mulheres operárias conviviam com a precariedade das condições de trabalho e a dependência sexual. Como destaca Michelle Perrot: “Os capitalistas são os ‘novos feudais’ cujo poder é ainda pior; a fábrica é um feudo que reduz os trabalhadores à servidão e entrega aos patrões o sexo das moças”.[3]
Mesmo com o advento de reivindicações por melhores condições de vida dos trabalhadores, o discurso dos grupos operários priorizava a pauperização e negligenciava a sexualização. O recurso à justiça, instituição também dominada pelo regime senhorial masculino, não era uma opção para as mulheres, visto que a violência era minimizada[4]. E mesmo com a passagem dos séculos, o processo de reconhecimento e valorização da mulher ainda enfrenta inúmeros desafios.
O tormento vivido pelas mulheres da Idade Média estigmatizadas como bruxas – e por isso torturadas e queimadas vivas – continua presente nos crimes fantasiados sob a hipocrisia do termo “passional”, em que homens alegam que foram “seduzidos, enfeitiçados, encantados pela mulher, que os provocaram e depois negaram fogo”. O filme “Os Acusados” (1988), estrelado por Jodie Foster, aborda essa temática ao trazer um caso de estupro coletivo sofrido por uma mulher de baixa renda e com reputação fora dos padrões estabelecidos socialmente. No filme, os acusados do estupro alegaram que a mulher era promíscua, sempre assumindo uma conduta provocadora e oferecida. Por conta disso, os agressores acreditavam que ela não tinha o direito de interromper o “rito de acasalamento”.
O controle continua em outras esferas, já que mesmo com o ingresso feminino nos centros universitários, no mercado de trabalho e em posições de destaque – conquistas que ganharam força com o movimento feminista na década de 1970 –, o salário da mulher continua sendo inferior ao do homem – mesmo em funções iguais, com a mesma qualificação e exigências. No então Brasil de 1910 – há pouco mais de um século -, as mulheres que se destacavam profissionalmente, não queriam casar ou ter filhos e tinham como maior objetivo se dedicar aos estudos e à carreira poderiam ser trancafiadas dentro de hospícios. A ameaça – concreta, em muitos casos – exigia da figura feminina um comportamento exemplar e adequado ao seu gênero. A pesquisadora Maria Clementina Pereira Cunha debruça-se sob o tema no artigo “De Historiadoras, Brasileiras e Escandinavas: Loucuras, folias e relações de gêneros no Brasil (século XIX e início do XX)”; essa discussão também veio à tona na novela global “Lado a Lado” (em exibição entre 2012/2013), onde a personagem Laura, divorciada, professora e independente, é hostilizada pela mãe por conta de suas opções de vida.
Mesmo depois de reatar o casamento, Laura não desiste de continuar exercendo a profissão e de escrever para jornais – começa assinando com pseudônimo masculino e, depois de lutas e embates, conquista o direito de assinar com o seu próprio nome. Inconformada, a mãe envia a filha para o sanatório, de onde Laura é resgatada somente com a autorização e presença do marido.
O ciclo de maus tratos, violência e agressões encontra-se presente nos diagnósticos médicos que, por meio de discursos autorizados, perpetuavam a hierarquia do patriarcado. A histeria, tratada na época medieval como possessão demoníaca, foi diagnosticada anos depois como distúrbio sensorial e motor, levando muitas mulheres para sanatórios – espaço de toda forma de abusos legalizados pelo saber científico e social. O filme francês “Augustine” (2012) enfoca o tema, revelando a tensão sexual e a dependência no relacionamento médico-paciente.
No decorrer da história, muitas mulheres foram violentamente estupradas, torturadas, aprisionadas e assassinadas para justificar a falocracia, o culto à virilidade, aos machos e sua fixação – construída histórica e socialmente – em serem senhores absolutos, proprietários, donos de seu próprio rebanho/harém (formado por suas mulheres, filhas, agregadas e empregadas). No Brasil, os assassinatos de Anna Levy Barreto (1912), Amedea Ferrari (1919), Ceci Sodré (1954), Aída Cury (1958), Araceli Crespo (1973), Ângela Diniz (1976), Eliana de Grammont (1981), Sandra Gomide (2000), Eloá Pimentel (2008) e Eliza Samudio (2010) são exemplos, só para citar, de casos aterradores que ocuparam a agenda da imprensa e do público, formando um grande currículo macabro em que reina o discurso do ódio e a opressão contra a mulher.
É necessário rever paradigmas, conceitos, desnaturalizar a história e desnudar verdades erguidas. Levantar discussões sobre gênero, feminismo, mudanças sociais, enxergando a vivência da mulher e do homem como subjetividades em evolução, sem limitações ou parâmetros enraizados, é um passo importante e mais do que necessário para que se dissipem todas as formas de flagelo e controle.
__________________
[1] Sócrates Nolasco no artigo “O masculino: um dilema contemporâneo”, publicado no livro O mito da masculinidade, Rio de Janeiro, Rocco, 1993. [2] Michelle Perrot. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p. 447 à 454. [3] Michelle Perrot. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005. [4] Michelle Perrot. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005.