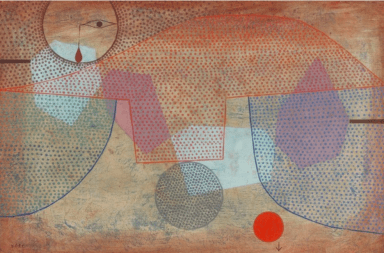Certa vez ouvi o escritor Paul Auster dizer que desconhece no universo melhor objeto para unir duas pessoas que não se conhecem do que um livro. Outro dia, numa escola pública em Alcântara, Maranhão, uma roda de leitura do conto “O túnel”, do escritor russo Máximo Gorki com professoras(es). No conto, Gorki dá voz aos milhares de trabalhadores suíços e italianos que trabalharam sob condições e ritmos desumanos para colocar de pé o túnel do Sinplom, que fica entre a Suíça e a Itália.
O narrador “é negro e tem a pele lustrosa como a de um besouro. No peito, traz uma medalha, e o seu rosto é sério, audaz e generoso. Com as mãos queimadas de sol apoiadas nos joelhos, ele olha no rosto de um passante que parou debaixo de uma castanheira e lhe diz: ‘Isto aqui é Simplon, senhor; isto é uma medalha pelo trabalho no túnel de Simplon’”, referindo-se à medalha que traz no peito. Foi praticamente à mão que os trabalhadores rasgaram a montanha sob os Alpes suíços.
Alcântara e Sinplom têm em comum terem sido edificados ao custo de vidas humanas, anônimas. Um triunfo à coisa ante a submissão da vida. Gorki deu voz e fala ao medo, à dor, ao espanto, à alegria momentânea do triunfo do homem sobre a natureza que molda para adaptá-la à sua vontade.
“Às vezes, dava até medo. A terra deve sentir alguma coisa, o senhor não acha? Quando nós entramos nas profundezas dela, cavando, quando fazemos essa ferida na montanha, ela nos recebe com brutalidade. Ela soltava um bafo tão quente contra nós que fazia o coração vacilar, a cabeça ficava tonta e doíam até os ossos. Muitos de nós experimentamos isso”, conta.
E quando finalmente os grupos de homens que rasgavam a picaretas cada qual de um lado da montanha finalmente se encontraram, o breve momento de sagração: “Palavra de honra: aquilo era bom como uma dança num dia de sol. E nós todos nos tornamos bons e amáveis uns com os outros, como crianças. Se o senhor soubesse como é forte, como é intenso e apaixonante o desejo de encontrar outro ser”.
Ontem ou hoje, quem circula por Sinplom nada sabe, nada sente, das doses de dor e de agonia e nem do breve momento de triunfo partilhado entre aqueles homens, rapidamente devolvidos ao anonimato, ao trabalho duro, à vida pouca, de onde Gorki os resgata em seu conto. Sobre resgate sabe muito Gorki, um menino sensível cujo entorno no interior da Rússia era pobre e violento.
Resgatado pela literatura, escreve anos mais tarde, já adulto, escritor: “Hoje ainda, quando evoco o passado, tenho dificuldade de crer que tudo foi realmente assim: há tanta coisa que eu gostaria de discutir e negar, pois a vida obscura de uma ‘raça estúpida’ é demasiadamente fértil em crueldade”.
A leitura compartilhada de “O túnel” em voz alta com professoras(es) numa escola pública em Alcântara, Maranhão, despertou o horror e o anonimato das vidas de pessoas escravizadas sob as quais Alcântara foi edificada. As ruínas da cidade são a prova desconcertantemente viva de violação, da ignomínia praticada sob o manto da legalidade plantada no Brasil: 5 milhões de vidas interrompidas, o holocausto impresso pela cor da pele negra.
O olhar suspenso em lágrimas do professor anuncia a denúncia calada, velada, apagada. Ele sabe que na vizinhança de onde estamos está “O túnel”. Apesar de habitarem Alcântara, a história da cidade em ruínas está silenciada, desabitada em quem a habita. Um apagamento impossível. Olha-se as ruínas sem ver. Há tensão local no ar que inibe deixar à flor da pele a africanidade que está nos veios da cidade e de seu povo. Em comunhão lemos Conceição Evaristo:
“…Os homens constroem
no tempo o lastro,
laços de esperanças
que amarram e sustentamo mastro que passa
da vida em vida.
no fundo do calumbé
nossas mãos sempre e sempre
espalmam nossas outras mãos
moldando fortalezas e esperanças,
heranças nossas divididas com você:
malungo, brother, irmão.”
O professor repete a meia voz…. “malungo, brother, irmão”. Prosa e poesia resgatam a verdade sufocada. Brota a resistência.
Escritor italiano de origem judaica, Primo Levi foi deportado para Auschwitz em 1944. Narra em “É isto um homem?” o processo de perda de humanidade pelo qual passaram todas(os) que foram submetidos ao horror imposto pelo nazismo. “Acho desnecessário acrescentar que nenhum dos episódios foi fruto de imaginação”, avisa no último parágrafo do prefácio do livro. “O último vestígio de civilização desaparecera ao redor e dentro de nós”, escreve nas páginas finais do livro.
A obra fala do embrutecimento levada às últimas consequências por seres humanos contra seres humanos. É agarrando-se a fragmentos de memória de trechos da “Divina Comédia” de Dante que Primo Levi encontra lampejos de humanidade pilhada cotidianamente com rigor matemático. Num trajeto que poderia percorrer com brevidade, é desacelerado por Jean, um jovem alsaciano cuja astúcia o tinha colocado num posto diferenciado como detento no campo. Nesta breve jornada pede à Primo Levi que lhe ensine italiano. É “O canto de Ulisses” que vem à memória de Levi e Jean ouve atento:
“Relembrai vossa origem,
Vossa essência;
Vós não fostes criados para bichos,
e sim para o valor e a experiência.”
O mito grego de Ulisses, retratado na obra publicada no século XIV por um italiano na época do Renascimento, resgata o fio de humanidade de um homem em tempos de obscuridade num campo de concentração na Alemanha.
William Faulkner disse que “o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor.” E da consciência sobre a escuridão há de nascer a resistência contra a obscuridade e a desumanização.
E então, tão certo quanto não saber como calcular a quantidade de fósforos para fazer a luz, há a convicção e a urgência em assegurar a universalização do acesso à literatura, no chão que a gente pisa, aqui e agora. Porque o que a literatura nos anuncia é que, para além de sermos deste ou daquele lugar, deste ou daquele tempo, partilhamos uma humanidade comum. Pois que assim seja assegurado. Fiat lux!