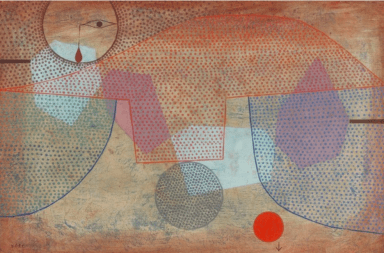Morei no Paraguai[1], onde nasci, até cerca dos seis anos. Eu era só mais um “mitã´í”[2] brincando na sombra das mangueiras, trepado nas goiabeiras como “ca´í”[3], escondido embaixo dos galhos rasteiros dos pés de laranja-limas, correndo agachado no mandiocal e se escondendo no capim alto, depois de assombrar os lambaris no córrego de d´água que passava ao fundo do quintal; com a ajuda de um pano de cozinha que colocava abaixo do nível da água, e com a isca de farelos de “galleta”[4], apanhava alguns peixinhos que, correndo com eles, mergulhados em pouco de água na concha das mãos, os depositava no poço; eles mantinham limpa a água e, com a sombra da mangueira, bem fresquinha. Essa água era tão doce que toda a vizinhança vinha se servir dela. O poço era prova de superação de uma incrível mulher, minha mãe, que estando grávida da minha irmã mais velha, o escavou no braço, pois meu pai estava viajando, como mascateiro que era, para Concepción, cidade portuária do Paraguai, a fim de trazer mercadorias para o pequeno bolicho[5] que então mantinha.
O espaço do nosso quintal era grande, e atravessava de uma rua a outra, sendo vizinho do terreno da Casa Paroquial, onde residiam os “pa´í”[6] americanos Redentoristas. Depois do córrego, que cortava o quintal ao meio, duas goiabeiras se destacavam; uma ficava no meio de uma touceira de capim, e, por isso, não me aproximava muito dela porque poderia ter formiga. A outra, num pequeno relevo, era a minha preferida, e, quando suas frutas amareladas rebrilhavam com o reflexo do sol, eu subia e me acocorava na forquilha dos galhos e, feito papagaio insaciável, me servia à mão daquela polpa avermelhada e doce. Era um momento de meditação gastronômico, e, um dia, assim distraído, não me dei conta do que vinha pelo ar, e, quando percebi, um tremendo trovão passou por cima. Ao ver aquele enorme avião passando tão próximo a minha cabeça, com um estrondo ensurdecedor, fui para trás e cai de lombo, como a gente dizia, no chão. Corri para casa, entrei na cozinha onde a mãe cozinhava, e, gaguejando, falei do ocorrido, e ela me explicou que o campo de aviação ficava ali perto e que, conforme o vento, algumas vezes os aviões desciam naquela direção. A partir daquele susto eu continuava gaguejando, ela fez o tratamento com o “patulá”[7]; toda vez que cozinhava, ela pegava a colher de pau e batia de leve na minha cabeça por três vezes, e, assim, com essa simpatia, acabou-se o gaguejo.
Meu pai, quando retornava de Concepción, trazia produtos industrializados, secos e molhados, além de brinquedos que distribuía entre minhas irmãs e este gurizinho. Num desses retornos, me deu um precioso aviãozinho de plástico; eu gostava muito de aviões, e até sonhava em ser aviador quando crescesse. Fiquei tão contente que comecei a pular de um lado a outro do aviãozinho, e, de repente, errei o pulo e cai por cima do brinquedo, que sofreu um acidente terminal; nem preciso dizer o quanto chorei por conta da acidental desgraça. Minhas irmãs, claro, sempre ganhavam bonecas com que, juntando as priminhas e amiguinhas da cercania, brincavam à sombra do pé de laranja lima. Eu havia participado, no estádio da Casa Paroquial, de um teatro infantil em que eu fazia o papel de um médico e, munido de um singular estetoscópio, auscultava os pulmões da menina que fazia o papel de paciente. Pois bem, o atendimento se estendeu até o pé de laranja lima, e, quando minhas irmãs se distraiam, eu concluía que as bonecas estavam doentes e morreram, e, logo providenciava o enterro; quando as meninas procuravam as bonecas elas já estavam a sete palmos, como se dizia. Depois dessas travessuras meu lugar favorito era perambular pelo mandiocal ou pelo canavial até a sanha das meninas furibundas passar. Tudo calmo, ia estudar, porque gostava de mexer com papel e lápis. Pelo ritual fúnebre, em cada tumba eu deixava uma pequena cruz, e logo elas encontravam as bonecas, e, praguejando em guarani contra mim, passavam no córrego e lhes dava banho.
Dentre os produtos industrializados, o pai trazia caixas de goma de mascar, e seus invólucros eram impermeabilizados com uma cera, uma cera especial que eu usava, fazendo uma bolinha em que se prendia a ponta de um pedaço de barbante “catalán[8]”. Munido desse artefato, me dirigia ao campinho de futebol que distava uma quadra do nosso rancho, e procurava pelo chão buracos que estivessem selados com teia de aranha. Rompia a ateia e inseria a isca, e ficava ali subindo e descendo o barbante, até que, em dado momento, sentia um peso, e, então, devagar puxava a isca, e, grudada nela, surgia uma enorme aranha peluda; era a caça. Ficava ali mesmo, na grama, brincando com o bicho, sem judiar, apenas testando seus reflexos, até que ela conseguia se desvencilhar e, desajeitado, entrava de volta na sua toca. Naquele céu azul infinito, o sol começava a aquecer os costados, e, de longe, ouvia a mãe chamando para o almoço.
Estava sentado à mesa, depois do almoço, sozinho, pois meus pais tinham o bom costume de fazer a sesta; aliás, no Paraguay, isso é sagrado. Era a hora do “Jasy Jatere[9]”, de que falaremos mais tarde. Pois bem, eu retirava com a ponta invertida da unha do polegar a cera do invólucro da caixa de goma de mascar. Eu estava distraído, com a cabeça ocupada em devaneios lúdicos, quando pressenti que algo passou por baixo da cadeira onde estava sentado. Na hora não me dei conta, pois foi tão ligeiro que acabei só percebendo o vulto de um bicho, que poderia ter sido um gato. Daí a pouco escutei a cachorrada latindo histericamente junto ao pé do paraíso, que muitos conhecem como cinamomo. Corri para lá, pois o Roni, o lavrador que tínhamos, e mais dois guaipecas da sua escolta, não latiam daquele jeito por nada. No alto da árvore, de galho em galho se pendurava como num trapézio, um macaquinho prego travesso. Foi tamanha a balbúrdia que os pássaros faziam coro aos cães, enquanto a vizinhança corria para o local para ver o que sucedia. Uns saiam a favor do macaco para que ele aguentasse firme nas alturas até que os cachorros cansassem, outros sugeriam que atirassem no intruso, e outros chamaram o seo Gervásio, o carroceiro, que era um sujeito destemido e tal. E ele, arriscando a própria vida, subiu ao alto e conseguiu, depois de encurralar o bichinho, descer com ele para gáudio dos ambientalistas enrustidos, e, seguido em procissão pela cachorrada, levou-o para casa e o prendeu com uma corda no pé de manga ao lado da sua casa. Foi o suficiente para que o primata mirim virasse atração do povoado, e os meninos cochichavam besteiras quando o macaquinho prego se amostrava às moçoilas pelas suas atitudes impudicas.
Por hoje, ficamos por aqui.
Na próxima estória vou falar da árvore da enforcada, da visita do seo “Lu´í”[10] e dos cuidados para não ser levado para a mata pelo “Jasy Jatere”. Outras estórias fazem parte do meu livro “CHÃO DO APA – contos e memórias da fronteira”[11], que pode ser solicitado pelo e-mail [email protected]
[1] O “Che Véllepe” que dá título à este texto significa “no meu povoado”
[2] Menino
[3] Macaquinho
[4] Bolacha
[5] Mercadinho
[6] Padre
[7] Colher de madeira
[8] Usado na época, muito resistente
[9] Filho da Lua, lenda guarani que deu origem ao saci-pererê no folclore branco.
[10] Assim é conhecido popularmente o “lobisomem” no Paraguai.
[11] 1ª ed., independente, 210 p, 2010.