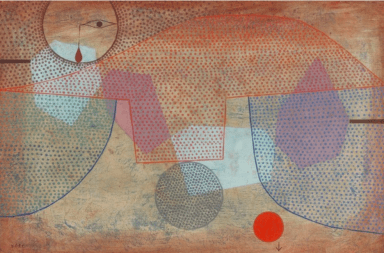Vencedor do prêmio Leya 2018 em Portugal, e do Oceanos e Jabuti em 2020, o romance narra a saga de uma família nas terras da fazendo Água Negra, na região oeste da Bahia. Por que o livro de estreia de um geógrafo caiu nas graças tanto do público quanto da crítica? O que a trama tem a falar sobre o Brasil de ontem, de hoje e de amanhã? Que feridas abertas o autor expõe através do recurso da ficção?
1. A saga de uma família ou história do Brasil para acordar gente grande?
Enfim, me rendi e comecei a ler esse romance cheio de prêmios e louvações, depois de um ano evitando-o. Minhas observações não têm pretensão acadêmica ou resenhista. Li com muito cuidado e interesse. Confesso que o gênero romance nunca foi meu preferido. Tenho dificuldade de me concentrar numa leitura longa. Sempre foi assim, de modo que ler narrativas longas acaba me tomando um esforço mental maior.
Não tenho muita paciência também de ficar lendo inúmeras digressões ou parágrafos inteiros com descrições. Então, sou exigente demais com o gênero, que deve me fazer percorrê-lo com vontade. Aprecio narrativas fluídas, com linguagem e trama que contribuem para manter o leitor atento e instigado.
O livro de estreia do Itamar não me cansou, pelo contrário, me ganhou desde o primeiro capítulo, tanto pela trama quanto pela fluidez da narrativa. Os capítulos são curtos, milimetricamente medidos para caber em quatro páginas, e não terminam bruscamente ou esvaziados de conflitos. Cada capítulo conclui com um suspense, uma informação que nos coloca imediatamente na direção de continuidade. São ótimas amarras. Isso é incrível do ponto de vista composicional do enredo. A suspensão da trama é uma teia de pequenas expectativas. O autor não entrega de uma vez a história, mas também não engana, não enrola o leitor. Todas as suspensões são pertinentes para o clímax, quando somos arrebatados pelo desfecho inusitado.
Torto arado é uma narrativa extremamente visual e sensorial. Itamar soube construir uma trama cuja narrativa caberia perfeitamente numa transcrição para a linguagem fílmica. Consegui ver a história enquanto lia, como quem vê panoramas cenográficos e fragmentos de imagens. Senti o aroma da terra sendo trabalhada, o cheio e a textura das plantações, o cheiro das águas pantanosas da região oeste da Bahia, os Marimbus. Ouvi os sons dos pássaros e de outros animais, escutei o cheio das casas e dos rituais do jarê nas noites em que os encantados descem para brincar na casa do pai das narradoras.
A história é contada por três personagens femininas, sendo que as duas primeiras são as protagonistas, irmãs – Bibiana e Belonísia – uma que não fala, e a outra que fala por si e pela que perdeu a língua. Olha o spoiler! A terceira narradora prefiro também deixar em suspensão por enquanto. Mas, me corrigindo, ela é a protagonista das protagonistas. E não vou explicar isso aqui porque demandaria uma tese, coisa para os pós-graduandos de Letras que estudarão a obra.
Quanto à linguagem, não há inventividade no uso da língua, ou sua recriação. Não é como um Rosa ou, antes dele, um Euclides da Cunha. É o português formal, normativo mesmo, que aparece. As narradoras são cultíssimas. Enquanto lia, me incomodava o fato de as narradoras, que não estudaram tanto assim, falarem as memórias da família e do povoado de modo tão formal. Não que eu seja favorável a uma linguagem que simule uma fala regional, sabe-se lá o que é isso. Isso também soaria falso.
Quanto ao conceito de regional, sempre fui avesso. Sempre torci a cara para esse conceito, que me parece excludente, tal como alta e baixa literatura. Fica claro que Itamar não usa a língua para performar um uso geográfico. Não vejo isso como problema, até porque os narradores dos romances de 30 e os atuais autores que trabalham com narrativas de cenários ditos “regionais” (Ronaldo Correia de Brito e Milton Hatoum, por exemplo) também seguem essa escrita formal. Mas os narradores deles são distanciados das personagens, falam em terceira pessoa, o que não ocorre em Torto arado.
Ou seja, Itamar destitui a língua como representação ou vestimenta de um modo de fala. São pessoas contando suas memórias de forma cultíssima e não um narrador impessoal. Inclusive, as três narradoras têm a mesma dicção, a estilística do texto é a mesma para as três, não havendo distinção de “falas” quando muda a pessoa da narrativa. Isso foi um incômodo durante a leitura das duas primeiras partes.
Agora entram spoilers. Atenção! Fuja do meu texto, se você não leu o romance ainda. Só volte para continuar a leitura depois de ter lido a saga. Torto arado conta várias histórias dentro de uma mesma trama. São interseccionadas as tramas, como uma rede de pesca, como sulcos do arado na terra a ser semeada ou as linhas que se cruzam para formar um tecido. A história é contada por duas irmãs. É uma história de sua família, desde a matriarca Donana, passando pelo curandeiro Zeca Chapéu Grande e sua esposa Salustiana, mãe de Bibiana e Belonísia, as narradoras, e os filhos dos filhos. Podemos pensar aí numa trama de Cem anos de solidão, no sentido do tempo mesmo.
A família, como tantas outras, é agregada nas terras de uma fazenda. Trabalha para seus patrões, mas não recebe salários e nem pode construir casa de alvenaria. Ou seja, é o regime de continuidade da escravidão que é narrado. E, nesse sentido, a história particular torna-se a história coletiva daquele povo de Água Negra e, mais amplamente, dos descendentes dos povos africanos escravizados no Brasil após a abolição da escravatura. As terras de Água Negra são uma metonímia do Brasil.
Aí a gente vê uma encenação clara das oito palavras-chave para se compreender o autoritarismo brasileiro, segundo Sobre o autoritarismo brasileiro (2019), livro recente da historiadora Lilia Schwarcz, sobretudo as relações entre escravidão e racismo, mandonismo, raça e gênero, violência e desigualdade social. As mulheres e os homens de Água Negra, brasileiros como eu ou você, vivem na invisibilidade de sua constituição de cidadania, explorados, como se a escravidão não tivesse acabado. Fazem parte daquela maioria da população brasileira apresentada pelo sociólogo Jessé Souza no livro Ralé brasileira: quem é e como vive (2009).
2. Quando as vozes de Encantados revelam o (des)encanto
Quem faz esse arremate e funde a história particular numa história coletiva é a narradora da terceira parte, uma entidade que incorpora nos curandeiros. E aqui meu nariz empinado para a linguagem culta se desfez completamente. Porque, no fundo, a dicção única das três narradoras, tem a ver com a unicidade da história. É uma voz mesma na voz de tantas. Quem fala aí no romance é o feminino. É a entidade do feminino que se constitui enquanto linguagem, enquanto voz coletiva. Às favas, portanto, com a busca de uma linguagem que falsearia o tal do texto “regionalista”. É a entidade quem diz que o que há nesse país é “A mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade”.
O que é uma entidade? Então o livro descamba para ao gênero da literatura fantástica, da ordem do maravilhoso e sobrenatural, gênero muito comum nos romances latinoamericanos desde Gabriel Garcia Marquez? Então uma trama engajada, de denúncia social de um atraso de Brasil, cuja política e organização social ainda são colonialescas, precisa de um evento sobrenatural para resolver o conflito, como um Deus ex machina do teatro grego antigo?
Mário de Andrade, ao escrever a rapsódia modernista do Macunaíma: o herói sem nenhum caráter (1928), dizia em cartas e prefácios que não estava interessado em buscar a brasilidade perdida não sei onde, porque, na verdade, brasileiro teria mesmo era uma entidade, ou seja, algo que incorpora, toma de conta do corpo, faz seu serviço e vai embora. Não temos uma identidade enquanto nação.
O que é mesmo nação? Identidade compreenderia uma vestimenta que serviria para todos os que a vestissem. Não somos assim. E nossa história cruenta, feita de genocídios e exploração do outro enquanto máquina de sexo e de trabalho desenham que brasilidade não passa de uma invenção romântica criada, senão para apaziguar os violentados da história, para calá-los e invisibilizá-los ainda mais dentro dessa suposta coletividade.
Não podemos falar de paz num país moldado por violências tanto físicas quanto simbólicas. Enquanto essa história não for remoída e as velhas histórias ruírem, não se pode falar em apaziguamento. Por isso, o livro de Itamar Vieira Júnior é uma urgência, porque se utiliza da literatura para narrar o que a história negou. A encantada, narradora da terceira parte, se encarrega de colocar os pingos nos is da trama e da história dos negros, índios e demais marginalizados do Brasil.
Ela também expõe as feridas abertas da luta pela posse da terra, que já fez perecer muitas vidas nesses cinco séculos. Um território retalhado desde as capitanias hereditárias, cujo povoamento se deu para explorar a terra em busca de riquezas. É a encantada que faz essa revisão histórica, ao mostrar como os negros, após a libertação, foram despedidos de mãos vazias, sem direito sequer a uma indenização. É a encantada que conta dos latifúndios, das terras improdutivas, da grilagem, do trabalho análogo à escravidão de muitos trabalhadores rurais do Brasil profundo e da extrema violência contra os deserdados da terra.
É um livro, portanto que coloca sobre a mesa a questão agrária, a necessidade tão antiga e sempre urgente de se fazer a Reforma Agrária. Em suma: a Encantada promove o desencanto do Brasil ao apontar a estrutura excludente que molda esse país cheio de ranços coloniais. Não à toa, o título se refere a um instrumento rudimentar para aradar a terra. É como se as personagens, todas agricultoras, ao ferir a terra com o arado para aí deitar as sementes, revolvessem também a história e fizessem brotar uma contranarrativa onde os excluídos, as minorias, os despossuídos de bens e os silenciados pudessem lançar o grito de vingança.
Não bastasse a trama de Torto arado recontar a história para acordar gente grande e atormentar aqueles que ainda insistem em agir como colonos de uma terra sem leis, a grandeza da narrativa também está assentada nas figuras femininas. É o feminino que se impõe, que arada a terra, que brinca nos terreiros, que se insurge contra a dominação masculina, que se fortalece na sororidade da comunidade, que cura a dor de si na dor da outra.
As mulheres de Torto arado vão ficar por muito tempo na minha mente, me ajudando a me desfazer do machismo e do racismo que me moldaram. Donana, Salustiana, Bibiana, Belonísia, Maria Cabocla, Miúda, Santa Rita Pescadeira (a encantada) e tantas outras mulheres de Água Negra nos guiam na trama e pedem que nós, os leitores, nos iniciemos o quanto antes no caminho de uma ressignificação do Brasil, ou uma reconstrução a partir de uma alfabetização necessária sobre decolonização.
*Esse artigo foi substituído por uma nova versão enviada pelo autor com breves modificações no dia 19/01/2021, às 21h50.
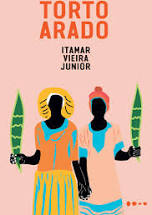
Título: Torto Arado
Autor: Itamar Vieira Junior
Editora: Todavia
Ano: 2019