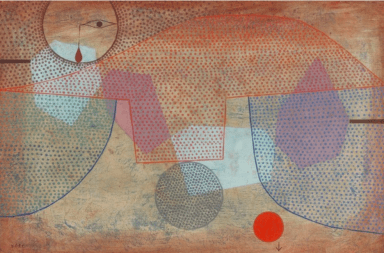Seria um daqueles domingos de missa e de carne ordinárias. A alcatra, comprada na véspera, repousava na mesa amarela junto ao saco leitoso de sal. Meu pai voltara da igreja, trazendo a meia dúzia de pão, e no sovaco, o pacote branco de cigarro com filtro. Atrás, junto ao portão, minha mãe se esmerava em saudar a turba de beatas envelopadas em xales escuros.
O tlaque-tlaque dos tamanquinhos maternos sinalizava o meu atraso. Saltei da cama e chispei, abraçado ao catecismo romano versão infantil. No pátio do colégio, o formigueiro de alminhas separadas por idades dedicava as manhãs domingueiras aos dogmas da Trindade e da concepção original. Por aquelas bandas, não havia criatura que não aspirasse o grande dia de receber, vestido de branco e em liturgia soleníssima, a hóstia imaculada.
A cada Dia do Senhor, toda a cidade, devotadíssima, tomava o rumo da fila da nave central da matriz, ansiosa em receber o pão celeste e trocar olhares de orgulho, marca de quem já foi iniciado. Lá do alto, a imagem de uma criança, flagrava as diabruras, sorrindo, faceira. Por aquelas bandas, da confeitaria à farmácia, tudo gravitava em torno do Deus Menino.
Diziam os abastados que semelhante devoção trazia sorte. Pobre algum duvidava do dito. O garoto ali venerado tinha sobrenome fidalgo. Cresci sem saber ao certo onde ficava o tal reino, mas o porte da criança era de tal nobreza que bastava citar a origem para lhe atribuir identidade singularíssima: Menino Jesus de Praga.
Com seu vestidinho vermelho adamascado, o garotinho divino, de pé e suspenso por dois anjos pelados, mirava pra frente, com o queixo levemente erguido, impassível aos empurrões e beliscos que eu sofria dos moleques maiores. Durante a missa, engolia, conformadamente, o choro.
Sublimava a dor esquadrinhando aquele corpinho femíneo: na mão esquerda, o globo azul, cravado por uma longa cruz dourada; na direita, dois dedinhos cândidos delicadamente levantados. O coraçãozinho de ouro, pendido de uma corrente brilhante no pescoço, iluminava o rostinho do garoto de Praga. Abaixo de seus olhos amendoados, duas bochechas nacaradas completavam o quadro faustoso. Eu gemia do introito ao “Vá em paz”.
Encerrei-me no meu quartinho. O leito estreito de menino solteiro, coberto por uma colcha negra sem dobras, recordava um altar. Do outro lado da parede descascada, no fundo da casa, lascas generosas de carne malpassada eram servidas na velha fôrma de alumínio. Abaixo do estrado, numa caixa de sapatos sem tampa, meias limpas. Remexia, orgulhoso, aquelas bolinhas de pano cuidadosamente enfileiradas e ordenadas por tons.
Consumia o tempo revirando a caixa, classificando as meias a partir de critérios que me parecessem mais adequados: uma hora, as soquetes separadas das finas; em outra, as pretas das brancas. E quanto ao único par de meias cinzas? Deixá-lo no mezzo termo, entre as cores clássicas? Amarrei-o em uma das ripas da cama. De tempos em tempos, desenrolava a tripa cinzenta e metia, de olhos fechados, a mão por sobre o objeto pontudo ali conservado, e assim voava.
Fora dessa particular ocasião, o dia se arrastava. É que detestava visitas. Sentia-me impotente, forçado a escamotear-me, fingindo cultivar um silêncio que não era meu. Encerrado, devotava a maior parte do dia a sondar o cheiro da fumaça e das fofocas oriundo na área dos fundos. Encolhido e mudo, com o ouvido colado à janela, associava os ruídos e seus donos, dividindo os confiáveis dos diabólicos.
Pedro, o cara de dedos longos, estava lá, sussurrando confidências. “Bicho do mato, venha almoçar!”, gritava minha mãe. Como uma lebre, lançava-me debaixo da coberta preta, imóvel, esperando ser simplesmente esquecido. Habitualmente, a estratégia dava certo. Quando me sentia suficientemente seguro, livrava o lençol das rugas, e sentado no piso frio, devorava o prato deixado na porta pela irmã caçula.
O insólito deu as caras naquele primeiro dia da semana de tempo comum. Na mão esquerda, tremulava uma brochura de papel vagabundo, empréstimo de uma menina magra e libertina, vizinha órfã de mãe viva. O título do livro era criminoso e o enredo, obsceno.
Fui tomado pelo 6º mandamento, curtíssimo e afiado. Junto a ele, me veio a musiquinha: “Cuidado, mãozinha o que pega; cuidado olhinho o que olha; o nosso Pai do Céu está olhando pra você.” Tremendo, apreciei de longe, a capa dissoluta. Aproximei-me. Caí na tentação. A cada parágrafo, um misto de choque e excitação. Convulsionava pelo novo frêmito e o velho medo.
A efígie de Jesus Menino, embora pálida, teimava em aparecer, com os dedinhos rijos pra cima. Não recuei. A mão esquerda, pequenina e imóvel, segurava, com força, o livretinho. A direita trafegava tresloucada. Entre as folhas lascivas e a porta do quarto sem chaves, sofregava. Quando os verbetes tornaram-me íntimos, o corpo inteiro chorou de alegria.
Chuva noviça e quentinha. Aliviado, saltei-me da cama desfeita, saquei o batom de dentro da meia no estrado, e exibi as bochechas rosadas para Pedro, que, na área dos fundos, devorava, sofregamente, as toras de carne crua no centro da mesa.