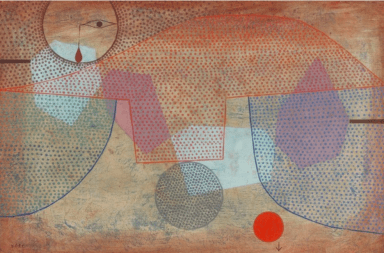Escolha seu bigode
Euclides Brasileiro da Cunha.
Euclides Rodrigues Cantagalense da Cunha.
Euclides da Escrita Polida da Cunha.
Euclides Rodrigues Sertanejo da Gota.
Euclides de Todos os Cantos e Cunhas.
Euclides da Cunha Arauto da Nação.
Euclides Rodrigues da Memória dos Povos da Floresta.
Euclides Moreno Tapuia Celta Grego da Cunha.
Euclides Simplesmente.
Euclides.
(Anabelle Loivos Considera[1])
Como Euclides da Cunha, nasci em Cantagalo, pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, um século e alguns anos depois daquele caboclo “Mixto de celta, de tapuia e grego”[2]. Crescida entre hermas em praça pública e menções em placas, nomes de rua e de colégios e, até mesmo, referências em marcas de laticínios produzidos pela cooperativa agropecuária local, desde cedo intuí que aquele homem-símbolo talvez tivesse algo realmente importante a dizer a mim, sua concidadã. É claro que só compreendi essa dimensão agonística do “herói” cantagalense, erguido altaneiramente sobre um pedestal prismático, quando li Os sertões e soube que estátuas também podem (e devem) andar.
Naquele momento, Euclides me convocou para uma luta recíproca e incontornável (texto-leitor, leitor-memória, leitor-autor, autor-texto), enfim, luta provocatória permanente e não excludente, enfim, luta política, “po-ética”. Aliás, ocupando o coração da praça central e bucolicamente arborizada de Cantagalo, aquela constituiu para mim a primeira aproximação entre a figura de Euclides e aquilo que os antigos gregos, em sua paideia, entendiam como representação em estado puro, marco sinalizador nas encruzilhadas e fronteiras, alumiando estradas e caminhos, pontificando nos ginásios que substantivaram o clássico preceito “Mens sana in corpore sano”, como um Hermes estípite de mente e olhos bem abertos.
Faço sempre um breve chiste com meus alunos da graduação, dizendo-lhes que cresci “entre as baratinhas da Casa de Euclides da Cunha”. Eis, aqui, o meu apólogo. Sim, elas, as baratas, estavam por toda a parte no museu dedicado ao escritor, em minha cidade natal (Cantagalo-RJ) e onde meu pai foi funcionário público por exatos 40 anos, levando a mim e à minha irmã, ainda pequeninas, para seus plantões noturnos na Casa.
Eu, que pensava que Euclides tinha realmente morado lá – e só mais tarde descobriria que a falta de cuidado com o patrimônio histórico e a bancarrota dos fazendeiros de café e seus descendentes venderiam a preço módico a Fazenda da Saudade para uma grande cimenteira que se instalou no local onde o escritor de fato nascera, no distrito de Santa Rita do Rio Negro (hoje, a proverbial Euclidelândia) –, ficava impressionadíssima com a “presença” velada do seu encéfalo[3], plantado no meio da sala de exposições do museu, num esquife de mármore.
Estranhíssima concepção museológica da década de 70, por certo, a de enterrar um cérebro tão “vivo” e tão morto, ali, entre objetos pessoais do Euclides, sua árvore genealógica, edições raras de suas obras, despojos da Guerra de Canudos, recortes de jornais e o muito pouco que sintetiza o acervo do museu. Mas, para duas crianças em fase de letramento, isso era um instigante mistério que, somado às dezenas de baratas que saíam do fundo rasgado de uma poltrona verde que ficava no corredor sombrio da Casa de Euclides da Cunha, fascinava nossa fértil e timorata imaginação. Ainda me lembro da Marcela, minha companheira de expedições ao museu, se perguntando se elas – as baratinhas kafkanianas, metamorfoseadas como euclidianas – desembocavam lá dentro, quando a gente ia embora, nos “miolos” do Euclides.
Mas, afinal, como me tornei leitora de Euclides? O meu primeiro contato com o autor se deu com Os sertões – Campanha de Canudos, como é o mais comum entre os leitores. Já se contam 117 anos de publicação do clássico de Euclides da Cunha, e as leituras que a monumental obra mereceu e ainda merece continuam por fascinar leitores e teóricos de diversos campos do saber. Glosado, relido, criticado – desde a primeira hora em que comparece à cena da peculiar “modernidade” brasileira, em meio às efabulações primeiro-republicanas, o relato euclidiano permanece vivamente inscrito na história da nossa cultura como uma referência paradigmática do conceito que fazemos de nós mesmos como povo e nação.

“Os Sertões” é a obra mais importante e mais conhecida de Euclides da Cunha. Imagem: divulgação
Desde o primeiro impacto de Os sertões no escopo do pequeno setor ilustrado de que Euclides fazia parte – leia-se: a classe dominante, que a si mesma outorgara o título de “vanguarda intelectual” daquela sociedade –, muitas e variadas foram as leituras que se produziram sobre “a leitura” euclidiana da “guerra do fim do mundo” e, avant la lettre, sobre o Brasil do Segundo Reinado e da Primeira República.
Já na “Nota Preliminar” a Os sertões, numa das passagens mais conhecidas do livro, Euclides reafirma sua crença no progresso, na civilização e na ciência do século XIX. Trata-se de uma opção discursiva essencialmente teleológica, que enuncia de forma cabal a visão de mundo cientificista incensada pelos intelectuais da época. É também uma partilha de leituras que o autor julga importantes para embasar seu trabalho, e que oferecem ao seu leitor uma prévia da escrita híbrida, vicejante e dialógica que se seguirá: “A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável força motriz da história que Gumplowicz, maior do que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes” (Euclides da Cunha, Obra completa: volume 2, 2009, p. 93).
Euclides não foi o único, nem o primeiro, e talvez não tenha sido, mesmo, o melhor repórter daquela guerra fratricida em terra ignota. Chegaram até nós relatos de outros jornalistas que também estiveram presentes ao palco de guerra, como Manoel Benício, do Jornal do Comércio, e Fávila Nunes, da Gazeta de Notícias, ou mesmo de observadores do conflito que publicaram suas impressões em órgãos de imprensa, como o então estudante de medicina, Lélis Piedade, no Jornal de Notícias, da Bahia, ou o notório monarquista, Afonso Arinos, no Comércio de São Paulo (Walnice Nogueira Galvão. No calor da hora: a guerra de Canudos nos jornais, 1977).
Muitos relatórios técnicos também vêm à luz, sob o pretexto de registrar a atuação dos agrupamentos militares na guerra – e, dentre estes, é mister destacar o de César Zama, deputado baiano monarquista que produziu uma inflamada defesa do conselheirismo, acusando os equívocos do poder central no episódio de Canudos em seu Libelo Republicano Acompanhado de Comentários sobre a Guerra de Canudos (1899). Manoel Benício, assim como Euclides, dá forma outra aos seus escritos jornalísticos de primeira hora sobre a Guerra de Canudos, publicando, em 1899, O rei dos jagunços – crônica histórica e de costumes sertanejos.
Afonso Arinos fez o mesmo, um ano antes, com seu romance Os jagunços (1898). De toda a forma, dentre todas as reportagens e crônicas de guerra, o relato euclidiano persevera como paradigmático e ensejador de linhas de leitura – durante muito tempo, quase hegemônicas, segundo José Brandão da Silva Calasans (Canudos não euclidiano: fase anterior ao início da guerra do Conselheiro, 1986) –, a partir da denúncia monumental que faz de que “Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A História não iria até ali” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 454).
Assim, muito provavelmente, Euclides da Cunha ter escrito ou não Os sertões não fizesse muita diferença para o registro dos fatos que lá sucederam, em sentido lato. Até porque, nascido sob a égide de uma literatura canônica, o futuro clássico teria interesse apenas, e a princípio, para as mesmas elites intelectuais que, a duras penas, construíam a utopia republicana. Mas a realidade discursiva da guerra era outra: “a urbs monstruosa” ou a pretensa Canudos de Euclides extrapolara os teoremas dos letrados como ele, e fora “figurar” nas páginas dos jornais, nos folhetos propagandísticos, nas modinhas e pequenas poesias que circulavam livremente pelo setor não-ilustrado da população.
O mais importante, nos parece, é tentar recuperar o como e o porquê esse “povo” – compreendido aqui não apenas como categoria sociológica, mas como “conarrador” da construção do imaginário republicano –, tanto no “Belo Monte” do Bom Jesus Conselheiro quanto nas cidades como o Rio de Janeiro, e antes mesmo da vanguarda intelectual, já experimentava “ficcionalizar” o sertão. Cremos que, na confrontação da escrita euclidiana com esses fragmentos, possamos de fato encontrar alguns dos motivos que asseguram, à obra de arte, a sua perenidade, além do seu poder de disseminação, discussão e problematização dos mais diversos discursos, quais sejam: literatura, política nacional e internacional, economia, história, sociologia, geografia e geopolítica, para citar os mais recorrentes no clássico seminal de Euclides.
Faz-se necessária a confrontação entre Os sertões e as narrativas não canônicas inseridas no próprio livro – fragmentos de preces, quadras populares, entrevistas etc. –, exatamente para aquilatarmos em que medida tão estrondoso sucesso editorial acabou por facilitar a circulação vinculada desses textos, localizados “à margem” da literatura tradicional. Tal confronto aponta para a compreensão dos desníveis existentes no discurso oficial sobre as causas e os efeitos do evento Canudos sobre a ainda incipiente República e sua necessidade de afirmação.
Se observarmos que, em Euclides mesmo, das anotações feitas em sua Caderneta de campo até as páginas finais de seu clássico, os habitantes de Canudos passam, de uma simples citação (por vezes, pejorativa) como personagens, a merecer os epítetos de “brasileiros” e “irmãos”, talvez possamos inferir disso que haja, na troca do índice metafórico, a sugestão de um projeto embrionário de explicitação da nossa nacionalidade.
“E persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro que siga, jamais deixa de levar uma pedra que calce as suas junturas vacilantes” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 18).
“A uniformidade, sob estes vários aspectos, é impressionadora. O sertanejo do Norte é, inegavelmente, o tipo de uma subcategoria étnica já constituída” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 89).
O sertanejo tomando em larga escala, do selvagem, a intimidade com o meio físico, que ao invés de deprimir enrija o seu organismo potente, reflete, na índole e nos costumes, das outras raças formadoras apenas aqueles atributos mais ajustáveis à sua fase social incipiente.
É um retrógrado; não é um degenerado. Por isto mesmo que as vicissitudes históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua formação, das exigências desproporcionadas de uma cultura de empréstimo, prepararam-no para a conquistar um dia” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 92).
“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 95).
“[…] e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente […]” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 96).
“Mas terminada a refrega, restituída ao rebanho a rês dominada, ei-lo, de novo caído sobre o lombilho retovado, outra vez desgracioso e inerte, oscilando à feição da andadura lenta, com a aparência triste de um inválido esmorecido” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 97).
Para penetrar com maior agudeza nas formas de representação de uma comunidade que lhe era estranha, Euclides optou por “literaturizar-se”, ele mesmo, assumindo-se como uma espécie de “arauto”, à medida que retoma a dicção da tragédia clássica, com todo o seu pathos e dinamicidade. Teatralmente, empresta e delega a sua voz a quem e ao que fora silenciado, apresentando-a de forma sincera ao crivo do porvir: e segue narrando os acontecimentos; lamentando e redimindo as vítimas; fazendo apontar o indicador implacável da história sobre os pseudovencedores, conclamando-nos, os leitores de sua escrita, a repensarmos, na trama de que também fazemos parte, os valores de uma nação que se (quis) quer civilizada e igualitária.
Cumpre ressaltar, ainda, o contributo de algumas iniciativas de leitura não ortodoxas que contribuem para a permanência do discurso euclidiano, e que fazem entrever certo arrebatamento que a obra de Euclides proporciona aos seus leitores. Elas se constituem, de fato, como processos de transbordamento do texto canônico, abrindo-o ao hipertexto tão ao gosto do multifacetado ato de leitura da contemporaneidade.
Citemos como exemplos dessa fecunda derivação: o próprio evento da “Semana Euclidiana”, em São José do Rio Pardo-SP, cidade em que Euclides exerceu sua engenharia e onde, há mais de um século, ininterruptamente, se reúnem interessados de todo o Brasil e do exterior, dentro e fora do meio acadêmico, para discutir a obra euclidiana e temas afins; a edição integral de Os sertões, na Internet, em Real Áudio, programa que possibilita “ouvir” a leitura do texto, feita por familiares de Euclides, estudiosos de sua obra e leitores-anônimos, apaixonados pelas vozes que saltam do clássico; a peça Os sertões, de José Celso Martinez, encenada em longas cinco partes pelos mais de 70 integrantes do grupo teatral Teatro Oficina, com cerca de cinco horas de duração cada uma.
Cremos que estas e outras leituras para além de Os sertões devam merecer nossa especial atenção, pelo muito que dizem, e pelo diálogo que travam com o texto euclidiano – nem sempre brando, digamos; mas pertinente porque multiplicador de sentidos, a partir da obra primeira. A metáfora desse livro reivindicante e vingante é recorrente em Euclides da Cunha. O autor lança mão dela para classificar metalinguisticamente suas duas grandes obras – a escrita, Os sertões, e a projetada, Um paraíso perdido. Em especial sobre sua obra a partir dos acontecimentos de Canudos, Euclides declara, em carta ao amigo Francisco Escobar, em abril de 1902:
Alenta-me a antiga convicção de que o futuro o lerá. Nem outra coisa quero. Serei um vingador e terei desempenhado um grande papel na vida – o de advogado dos pobres sertanejos assassinados por uma sociedade pulha, covarde e sanguinária… Além disto terei o aplauso de uns vinte ou trinta amigos em cuja primeira linha estás. E isto me basta (Walnice Nogueira Galvão e Oswaldo Galotti, 1997, p. 133).
Entre consórcios, leituras e derivações, Euclides da Cunha estabeleceu para o Brasil uma representação como país, e para seu povo como nação, de natureza sofística e inventiva. E o fez ousando transcrever a história em fractais narrativos múltiplos, atravessados igualmente pela memória dos vencidos, pela pretensão dos que se disseram vencedores e pelo olhar intercambiante e mediador do narrador sincero que não se acostuma, que não transige. Se “Canudos não se rendeu” (Euclides da Cunha, Obra completa: volumes 2, 2009, p. 404), também Euclides não capitulou frente ao desafio estrondoso de escrevê-lo. E de vivê-lo.
A leitora que fui e sou de Euclides percorreu, portanto, tais caminhos de leitura. Foi ler Euclides como “leitor”; ler o que imediatamente e a posteriori se apreendeu dele, ou seja, ler Euclides como paradigma de “leitura(s)” sobre o Brasil e sua inserção no contexto sulamericano; ler a produção de um grande clássico da cultura brasileira como “obra aberta” tanto ao cânone quanto ao que esteve e está para além dele mesmo; ler com Euclides os fragmentos e os relatos de uma história “incompreensível”, mas viva e sempre a provocar outras e díspares leituras; ler a “leitura” de Euclides como a de uma clara imortalização sertaneja, e antes de tudo, “forte” desejo semântico de reescrever “brasis”.
E esta a leitura a que me dedico, por uma igualmente imperiosa razão “sertaneja” (vinda dos Sertões das Novas Minas de Macacu, matriz setecentista da Cantagalo de Euclides), solidariamente com quem, antes de mim, foi totalmente solidário, a seu modo e prejuízo, com a escrita consciente, encenante e apaixonada de uma utopia em-ser, frente ao malogro da utopia republicana.
[1] Anabelle Loivos Considera é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Programa de Extensão Universitária “Caminhos da Serra Fluminense”, além do projeto “100 Anos sem Euclides”, que promovem ações de formação continuada de professores, educação patrimonial e disseminação de leitura no município de Cantagalo-RJ, terra natal do escritor Euclides da Cunha. É coautora de Euclides: da face de um tapuia (Nitpress, 2013) e autora de Sertão selva e letra: Euclides da Cunha em atravessamentos (Eduff, 2019).
[2] Euclides assim se autodefine, em verso de um poema que escreveu em cartão postal enviado a Lúcio de Mendonça, em 26 dez. 1903 (BERNUCCI; HARDMAN, Francisco Foot. Euclides da Cunha: poesia reunida. São Paulo: Ed. UNESP, 2009).
[3] Joel Bicalho Tostes, representante da família de Euclides da Cunha, casado com uma das netas do escritor, localizou o encéfalo do escritor depositado em uma seção burocrática do Museu Nacional da UFRJ, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A peça estava em um frasco de vidro, em formol renovado, há vários anos, sem qualquer rotulagem que a identificasse e guardada com outras peças – anônimas também – na parte inferior de um armário comum, sob uma pia. Em 1983, a família fez a cessão da guarda do encéfalo do escritor para a Casa de Euclides da Cunha, em Cantagalo. A “relíquia” foi recebida com pompa e circunstância pelos munícipes cantagalenses, tendo sido para lá levado por Austragésilo de Athayde (presidente da Academia Brasileira de Letras, na época). Além de autoridades, poetas, jornalistas, curiosos e que tais, havia também crianças na plateia: Anabelle e Marcela. Das baratas euclidianas, entretanto, não se teve notícias. O Arquivo de Memória Amélia Tomás (projeto do Programa de Extensão Caminhos da Serra Fluminense) possui dezenas de fotos e entrevistas com os participantes da comemoração.