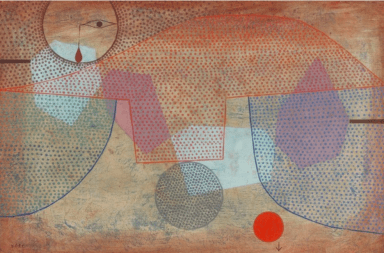Ao navegante, entretanto, jamais acomodar-se.
É preciso, ao seguir-se a rota, apressá-la,
Ser mais ágil que o rio
E colher a cidade antes que seu leito o faça.Trecho de “O Homem É o Rio, o Rio É o Mundo”
Jose Carlos Capinan
O meu bairro ainda era bacana. As ruas mesclavam o antigo paralelepípedo com o moderno asfalto. Mas não eram ainda ruas de verdade. No sentido de ruas onde só se passam carros, realmente, elas não eram de verdade. Minguavam os carros e os jogos de rua dominavam. A meninada ficava contente. Todo mundo solto inventando sua infância. Claro, os tempos permitiam isso, o passar das horas era outro e os temores bem diferentes.
No meio do embate futebolístico era apenas dois carros passarem em sequência que vinha a frase:
– Isso aqui tá parecendo rua! – logo depois, o jogo seguia em paz.
O bairro, a rua, a vida era toda nossa.
O meu bairro era bonito e o que não estava nele parecia distante. Sair de lá, era ir ao centro, ir à “cidade”, ir a são bernardo, os outros bairros vizinhos eram apenas passagem, me bastava o meu. Dois três quilômetros e já mudava a referência. O centro. Os prédios eram diferentes, as pessoas passavam bem rápido. Era outro tempo, um tempo diferente das ruas vazias onde carros eram exceções. Tudo envolvia mistério. A cidade era a “Cidade”.
Tinha a pastelaria, os armarinhos, as lojas de roupas de senhores e senhoras. As lojas de sapato, onde ficava os pares de tênis, entre eles o Kichute para dar os (maus) tratos à bola. Ir ao centro era coisa especial. Cada rua do centro tinha sua história verdadeira e a inventada. Não era diferente no bairro, mas no centro tudo era maior. Cada lugar tinha sua marca.
Porém, havia os prédios que não se apresentavam tão facilmente, não se destacavam, não eram óbvios. Não tinham placas evidentes, nem produtos à mostra, quase nunca tinha gente em frente deles. Poderiam ser qualquer coisa, coloridos, sem cor, sisudos, simpáticos, abandonados. Prédios sem nome.
Um deles tinha um jardim no entorno e portas de vidro. Não sabia o que era muitas vezes passava em frente de ônibus e ele ainda não me despertara qualquer curiosidade. O que se fazia lá, o que tinha dentro desse prédio, não era facilmente identificável. De longe, eu podia distinguir móveis cinzas que não contrastavam com a cor cinza externa. Era uma massa só, homogênea.
Um dia cheguei perto e pude ver uma roleta, para além dela, uma senhora com um olhar atento, e lá no meio de tudo, livros. Não passei da roleta, fiquei parado, envergonhado, curioso, mas sem força para entrar. O mistério se elucidou: era a biblioteca pública. Demorei a entender o que rolava lá, o que aquele lugar representava. Capítulo grande da minha história começava ali.
Na minha escola tinha algo chamado biblioteca. Era sempre fechada ou restrita. Não despertava interesse de ninguém. Lembro-me da única vez que entrei sem hesitar e não foi bom, nada bom. A pessoa que lá estava para atender ensaiou um grunhido querendo ser palavra e instantaneamente atingiu seu objetivo. Saí dali rapidamente. Naquele momento, a biblioteca para mim passou a ser um lugar de impedimento.
A biblioteca pública era o prédio que eu não identificava. Era algo a se entrar, mas tinha o tal nome do impedimento: biblioteca.
O ônibus que passava perto da biblioteca tinha ponto final bem perto de casa. Com ele seria rápido chegar, quinze, vinte minutos. Tinha a opção de ir a pé. Gostava mais dessa. Passar em frente ao Corpo de Bombeiros, depois o hotel grande, subia um pouco e saía defronte ao cemitério. Perto do cemitério, moravam a minha avó e os tios. Mais abaixo tinha a prefeitura, logo em frente às três ruas que compunham o centro. A terceira rua mais a direita, era a mais estreita, bem no meio dela, a biblioteca.
Entrar na biblioteca foi um processo longo, nem sei dizer mais a primeira vez. Foi uma longa primeira vez. Livros de lado, números indecifráveis, assuntos demais. Pessoas quietas, pessoas olhando pros livros, pessoas que atendiam olhando para lugar nenhum. Sempre alguém olhando e dizendo não. Ao menos, a partir daquele momento, eu sabia que não era só o prédio cinza. Os livros tinham cor na capa, mas as pessoas ainda eram o cinza.
A primeira pessoa colorida, que me atendeu, perguntou sem rodeios o que eu queria. É certo que a esta altura nem lembro mais o que pedi. Mas passou a ser algo fora do cinza, colorido, a pessoa, o pedido, a situação, coloriram a biblioteca. Foi um pedido atendido.
Perder o rumo no meio das estantes e descobrir coisas tornou-se um grande barato. Não queria orientação. Desorientava-me diante da organização dos livros perfilados, das mesas alinhadas, dos pedidos de ordem e do silêncio. A mente passava a olhar aquela confusão de informação de uma maneira simpática.
Obviamente, para mim era só confusão, mas hoje consigo emprestar essa poesia. Eram tardes longas, nas quais eu perdia o futebol das ruas protegidas da minha vila. Perdia a bola do jogo e ganhava um espiral de curiosidades.
Intuía sempre que as minhas idas à biblioteca pública eram inúteis, ficava sambando nas estantes, insistia em não pedir ajuda (teimosia) e pegava livros incompreensíveis, mesclados com livros “fáceis” que fizeram minha cabeça.
Não vou citar livros, nomes de autor, isso tudo não importa agora. O que me marcou foi esta confusão, parte intencional, parte desavisada, em que eu caía nas minhas tardes de biblioteca. Foi assim, que o prédio deixou de ser cinza, que ele foi inventado por mim.
Passado anos, entrei em várias bibliotecas, todas com gostos diversos, de cinzas e coloridos diferentes. Até me tornei bibliotecário. Tantas vezes cinza, outras vezes com cor. Trabalhei em várias delas, cinzentas e com cor.
Vejo biblioteca ainda hoje dessa maneira. Como algo a desorganizar um mundo paginado, como algo a derrubar uma certeza, limpar a área e construir novos caminhos. A biblioteca é o principio de nossas dúvidas.
Como posso imaginar o passado, como posso ver hoje e construir com o peso da minha vida dentro de bibliotecas, como leitor, como profissional, posso então inventar uma tarde que caberia em qualquer selva de estantes recheadas por livros e meninos perdidos. Posso imaginar que mandava naquela biblioteca, como mandava nas ruas em que jogava o futebol. Posso fazer e falar o que quiser. A fala a seguir cabe em qualquer uma dessas tardes, dessas vidas, desses prédios:
O bibliotecário pede silêncio na biblioteca e o menino rebelde responde:
“Não posso, as palavras fazem barulho na minha cabeça”
Talvez este menino tenha sido eu, mas não importa.