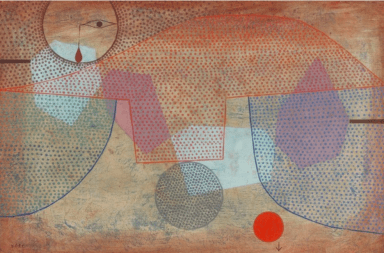Por Fátima Maria da Rocha Souza e Raimundo José Rodrigues de Oliveira*
A leitura segue a História do desenvolvimento da sociedade. No caso da cultura brasileira, somos herdeiros de um nascimento violento e sectário. Este sectarismo, produto de visão religiosa e escravista, promoveu uma sociedade baseada em um racismo estrutural e covarde, mas visível na territorialidade de sua gênese representada no binômio casa grande-senzala.
Os resquícios da nossa trajetória histórica ainda persistem em nossa urbanidade, caracterizada pela periferia-centro de nossas cidades. A herança territorial é acompanhada pela continuidade de nossa condição de berço nacional e mesmo os processos históricos vividos no decorrer dos mais de 500 anos de lutas para transformar nossa condição de existência, ainda carregam muito da estrutura que foi construída na sociedade colonial.
Ao nos tornarmos independentes politicamente, não se vislumbrava uma sociedade de direitos. A estrutura econômica e racista que caracterizava a colônia foi conservada e cultuada pelas elites brasileiras ao longo das décadas. O sistema imperial aqui implantado refletia uma sociedade segregada e a política característica deste modelo de estado era conservadora do status de senhor e de escravo, portanto, garantidora de privilégios. Assim, nesta “nova” condição da sociedade, a liberdade intelectual era uma questão que não fazia parte da pauta, visto seu caráter conservador.
Como nada dura para sempre e não estávamos sozinhos e isolados, fomos tragados pelo processo do mundo, notoriamente o europeu, que nos levou para mudanças cuja a profundidade nossa realidade atual permite questionar. O advento da República e sua promessa democrática de “poder do povo” ainda está por se realizar. O regime imperial, implodido pelo fim de sua razão de ser ― o sistema escravista ― nos deixou uma marca característica: a lei de terras de 1850, que proibiu o acesso à terra aos mais pobres. O principal meio de produção da época continuava inacessível e funcionando como um grilhão do desenvolvimento. E, neste ínterim, o território continuou segregado, atravessado por disputas de poder e mecanismos de controle dos mais pobres.
A promessa fundadora da República da “Ordem e Progresso” aludia muito para o universo leitor: quase todo o poder para quem sabe ler. O sistema eleitoral admitia apenas o voto literário. Os cidadãos seriam, a priori, aqueles que fossem capazes de ler e escrever. Apontava-se um novo caminho, cuja ideologia expressa em sua bandeira, colocava a força da mente humana, da sua intelectualidade, acima da força bruta da lei do mais forte. Mas as letras são aquisição que precisa ser repassada, visto que é uma tecnologia da invenção humana. Para dar certo, precisa-se de ensino público, de bibliotecas, de cultura leitora e de valorização de uma humanidade detentora de direitos.
O progresso estava a caminho! Mas não aconteceu bem assim. Fomentou-se mais uma República da ordem do que do progresso. O autoritarismo tornou-se uma prática da estranha coisa pública aqui fundada. Golpes sucessivos de estado nos colocaram diante da dura realidade de que o açoite ainda era o denominador da liberdade. As transformações políticas da República, permeadas pelo militarismo, foram norteadas pelo conservadorismo e pelo reacionarismo. Neste contexto, não tivemos a nossa revolução leitora, passando diretamente para a era dos meios de comunicação de massas que, invariavelmente, entravam nos lares e territórios propagando o modo de vida das elites que impunham, de forma autoritária, o seu ideário.
A modernidade capitalista republicana trouxe consigo uma forma de trabalho alienante, que tira do trabalhador ou limita a sua consciência de sujeito produtor da riqueza da sociedade. O que antes era tortura para o trabalho, com açoites, castigos e privações, agora faz do trabalho a própria tortura. Há uma similaridade histórica entre a senzala e o mundo das periferias das cidades de hoje: ambos são territórios de pertença da violência, encarnação da continuidade do domínio da elite que enxerga o trabalhador como um serviçal a seu dispor, cuja submissão necessita do amesquinhamento de sua condição de humanidade.
O surgimento das bibliotecas comunitárias está diretamente ligado (consciente ou inconscientemente) às lutas das classes populares por melhores condições de vida, que lhes são impostas e naturalizadas pelo Estado, e reforçada pelos discursos autoritários dos proprietários do comunicado. São conquistas da experiência da luta da periferia, entendendo a necessidade da liberdade para o corpo em sua consciência integral e o empoderamento de cada membro de sua comunidade como uma meta necessária para a conquista do progresso que lhe é negado.
As bibliotecas comunitárias assumem o papel de resistência ao embrutecimento e à constância do sofrimento como parte da normalidade da vida dos menos afortunados. A luta precisa apontar para a libertação em sua forma mais ampla, para solidificarmos nossas conquistas que, em primeiro lugar, precisam ser a da consciência de que somos historicamente explorados e limitados em nossa condição de existir e de ser. Por isso, podemos afirmar que a resistência já começa no simples fato de existir no território. A biblioteca comunitária é um equipamento público inexistente (negado) nas periferias amazônidas. Portanto, estar neste lugar já é um primeiro passo, constituindo rebeldia contra a opressão a que nos submetem. Porém, nas condições do lugar em que surge, a biblioteca comunitária apresenta diante de si uma missão bem mais complexa.
Um segundo passo vai no sentido de ser um sujeito político resistente, criativo e generoso. E, para ser resistente é preciso convencer a comunidade que temos diante de todos nós o desafio de ressignificar nossa pertença no território. Por isso, mais que ser um lugar de acesso ao livro, é um espaço de fomentadores da leitura. E por fomentar, nossa área de atuação não se limita às quatro paredes do lugar da biblioteca. É preciso dar visibilidade para o livro, para a leitura e para a literatura e, além disso, dar significado para nossa vitória contra a marginalização e a pobreza. Lembrar ao nosso povo que, como humanos, todos somos pensadores e o pensamento é uma qualidade humana que precisa ser desenvolvida, em nossa comunidade, resgatada.
Se o trabalhador quiser seu filho numa universidade, ele precisará ler. Melhor dizendo, ele terá que amar ler. Aliás é uma condição para a sociedade ter ciência, pois sem livro e sem leitura a ciência não se cria. Assim sendo, é preciso transformar a leitura em cultura popular. Posição bem maior que cultura escolástica, porque se apresenta como patrimônio de pertença do povo. Para estas construções há de se articular com o território, dialogando com os atores políticos do Estado, da organização comunitária e religiosa. Precisa se fazer presente nos momentos significativos da coletividade e se tornar pauta política para o avanço da sociedade.
Um novo capítulo dessa história tem sido escrito no norte do país. A Rede Amazônia Literária (PA), já consolidada, tem apoiado a construção de outras redes no território amazônico. E assim escuta em eco as vozes da Rede Cachoeiras de Letras de Bibliotecas Comunitárias do Amazonas (AM) que tem começado a se organizar desde 2019. Nesse sentido, articular as bibliotecas comunitárias do Amazonas tem sido um desafio que nasceu de uma prática extensionista desenvolvida na Universidade do Estado do Amazonas, por meio de um mapeamento de espaços de leitura em cidades rurais do interior, entre elas Itacoatiara e Presidente Figueiredo, incluindo a capital Manaus. Esses espaços, muitos deles há muito tempo abertos à comunidade e outros surgidos recentemente, evidenciam a importância de manter a memória pulsante. Neste caso, compartilhar os saberes entre comunidade e universidade também significa resistir.
Aqui, como na maioria dos casos, as bibliotecas comunitárias existem onde o poder público não atua da forma como deveria atuar, nem atua para a quantidade de pessoas que habitam aqueles municípios, uma vez que as políticas públicas são inexistentes e descontinuadas, o índice de desigualdade social é altíssimo e se soma a um baixíssimo IDH. A despeito disso, as bibliotecas comunitárias evidenciam em suas ações, muitas vezes particulares, uma vontade de fazer diferente, sem apoio público, mas com a ajuda solidária de algumas pessoas da comunidade entusiastas das suas ações.
Juntar-se em rede é, portanto, uma forma de guardar essas diferenças e manter vivo o sentido de coletividade, é dar a ver o que está invisibilizado a tantas pessoas, inclusive na universidade. E, para tantas riquezas, não podemos ficar indiferentes. A articulação das bibliotecas comunitárias em rede tem sido uma preocupação de professores, acadêmicos, bolsistas e voluntários da Universidade do Estado do Amazonas para fazer chegar a todo o país as notícias do norte, colocando o Amazonas no mapa da leitura no Brasil. Por isso, tem-se investido em uma comunicação mais direta nas mídias sociais; em documentários disponíveis no YouTube, como o Cachoeiras de Letras que mostra o ativismo social que desenvolvem; na sistematização de informações por meio de sites, como o do Práticas Leitoras e o Rede Cachoeiras de Letras (disponível por meio do link: ; no incentivo à produção acadêmica com publicação de livros, como o Janelas de Leituras e o Dossiê Práticas Leitoras (no prelo); e divulgação em congressos e eventos acadêmicos. Paralelamente, oferece-se formação continuada por meio da extensão para integrar a universidade e a comunidade em torno dos conhecimentos acadêmicos produzidos e a tecnologia social que as bibliotecas comunitárias desenvolvem, num intercâmbio que pode despertar nos jovens o papel de agentes culturais que eles podem exercitar, potencializando ainda mais suas comunidades, em torno da profissionalização da área do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas.
É no sentido das articulações em rede que pretendemos chegar em territórios tão longíquos com o objetivo de nos unirmos para evidenciar no mapa da leitura do Brasil a região norte do país, com suas diversidades, suas línguas indígenas, seus saberes orais, suas histórias escritas, cheio de memórias vivas que fazem as bibliotecas de suas comunidades e as bibliotecas subjetivas compostas pelo acervo de cada um de nós.
*Professor de História da Secretaria de Educação do Pará (SEDUC/PA). Membro do Espaço Cultural Nossa Biblioteca.. E-mail: [email protected].