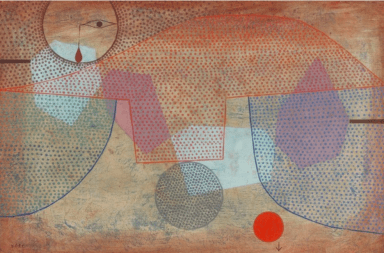Por Antonio Araujo, do site Visão
No seu último livro publicado entre nós, o extraordinário A Biblioteca à Noite, Alberto Manguel conta uma história não menos extraordinária. Pouco depois do Natal de 2003, um nova-iorquino de 43 anos teve de ser salvo pelos bombeiros no seu apartamento, onde vivia sozinho. Os vizinhos ouviram sussurros lancinantes vindos detrás da porta, gemidos de um homem soterrado por papel. Livros, revistas, jornais, Patrice Moore agonizava sob os escombros da sua biblioteca imensa que, por razões inexplicáveis, lhe caíra em cima. Demoraram mais de uma hora a libertá-lo daquele cárcere erudito, tendo de retirar 50 sacos de material impresso para chegarem ao ávido leitor, por certo combalido por tantas leituras feitas, ou adiadas para melhores dias.
Não será caso único em que uma biblioteca pode matar um homem, mas é mais frequente suceder o contrário. Sem querer soterrar os leitores com muita informação, refira-se outro livro extraordinário: História Universal da Destruição dos Livros, de Fernando Báez. Ao longo da História, foram centenas as ocasiões em que os homens destruíram livros, umas por descuido e incúria, outras de forma deliberada e voluntária. Da Biblioteca de Alexandria ao “bibliocausto nazi” (na expressão de Báez), passando pelos mais recentes casos do Iraque, milhares de livros desapareceram para sempre – e, com eles, perdeu-se uma parcela significativa da memória da Humanidade. Mas, como no homem de Nova Iorque, há acasos afortunados: por exemplo, o dos manuscritos de Timbuktu, alguns com mais de 800 anos, resgatados da morte certa pelos livreiros do Mali desde finais de 2012, quando se iniciaram os conflitos com os radicais islâmicos. O herói da história, Abdel Haidara, conseguiu salvar cerca de 80% do acervo bibliográfico do país, cerca de 250 mil obras antiquíssimas, que graças a uma rede de livreiros e ao apoio internacional puderam viajar em segurança, para longe da guerra. Um périplo de mais de 700 quilómetros, feito em carros civis disfarçados de veículos de transporte de fruta e verduras. A gasolina foi paga pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Outra história com final feliz.
Há, todavia, formas mais subtis de devastação. Manguel insurge-se contra a microfilmagem e a digitalização em massa de jornais e livros levada a cabo pela maior biblioteca do mundo – a Biblioteca do Congresso dos EUA –, prática seguida pelas grandes universidades americanas e agora também pela Biblioteca Britânica. O argumento é a falta de. Não viria mal ao mundo se, em simultâneo, não se destruíssem as coleções em papel. Os manuscritos de Timbuktu mantêm-se intactos há oito séculos, o tempo médio de um CD-ROM são 10 anos. Em 1986, a BBC gastou milhões a criar uma versão multimédia do Domesday Book, um censo inglês do século XI, compilado por monges normandos. Além da TV britânica, mais de um milhão de pessoas contribuiu para este projeto, com donativos e trabalho voluntário. Em março de 2002, tentou ler-se os dados, num microcomputador especial da BBC.
A tentativa falhou. Procuraram-se soluções, nenhuma funcionou, um completo desastre.
Com isto não pretende afirmar-se que a digitalização seja um mal em si mesmo. Pelo contrário. Graças a ela, a democratização do saber alcançou níveis nunca vistos. Podemos estar no meio do campo, longe de tudo e de todos, a ler um livro de uma biblioteca situada a milhares de quilómetros de distância. O erro está em julgar que o digital vem – ou pode – substituir o papel, mesmo quando este nos agride e sufoca, como aconteceu ao nova-iorquino que os bombeiros salvaram do abraço fatal da sua biblioteca.
Há formas de conciliar o novo e o velho mundo, com vantagens para ambos. A FFMS promoveu a elaboração de uma obra que veio colmatar uma lacuna inexplicável na vida intelectual portuguesa: a ausência de uma cronologia atualizada dos principais factos que, nas últimas décadas, marcaram o país e o mundo. Da autoria de Paulo Sousa, António J. Ramalho e Octávio Gameiro, Cronologias de Portugal Contemporâneo foi editado em livro, pelo Círculo de Leitores. Em simultâneo, numa parceria com a RTP, foi feita uma obra digital, recentemente galardoada com o Prémio Sapo 2016, categoria Media Innovation. À semelhança do bibliófilo de Nova Iorque e dos manuscritos de Timbuktu, outra história com final feliz.
No entanto, pior do que a perda de bibliotecas é a perda de quem as lê. Pense-se em dois nomes cimeiros da cultura portuguesa: Vasco Graça Moura e João Lobo Antunes. Ambos amavam os livros e eram leitores militantes, insaciáveis. A sua morte representa a perda de uma biblioteca inteira; para mais, uma biblioteca viva e interventiva, que em todas as ocasiões tinha a palavra certa, a frase de um autor novo ou antigo, citada com a precisão e a velocidade do mais sofisticado dos computadores, o da memória humana. A FFMS orgulha-se de os ter publicado na sua coleção de Ensaios. Há pouco, em parceria com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, saiu o primeiro volume da coleção Ética para o Nosso Tempo, que tive o privilégio de dirigir em conjunto com o Prof. João Lobo Antunes. O lançamento de Ética no Fim da Vida – E quando eu não puder decidir?, de Lucília Nunes, esteve marcado, agendado, chegou inclusivamente a ser publicitado. João Lobo Antunes, que iria presidir à cerimónia, quis estar presente até à última hora, mas o agravamento do seu estado de saúde não o permitiu. O lançamento do livro teve de ser cancelado, adiado. O mesmo se não dirá da dívida de gratidão que todos temos para com a memória de João Lobo Antunes. A ele se dedicam estas linhas, que por certo não merecem figurar em nenhuma biblioteca deste mundo efémero.