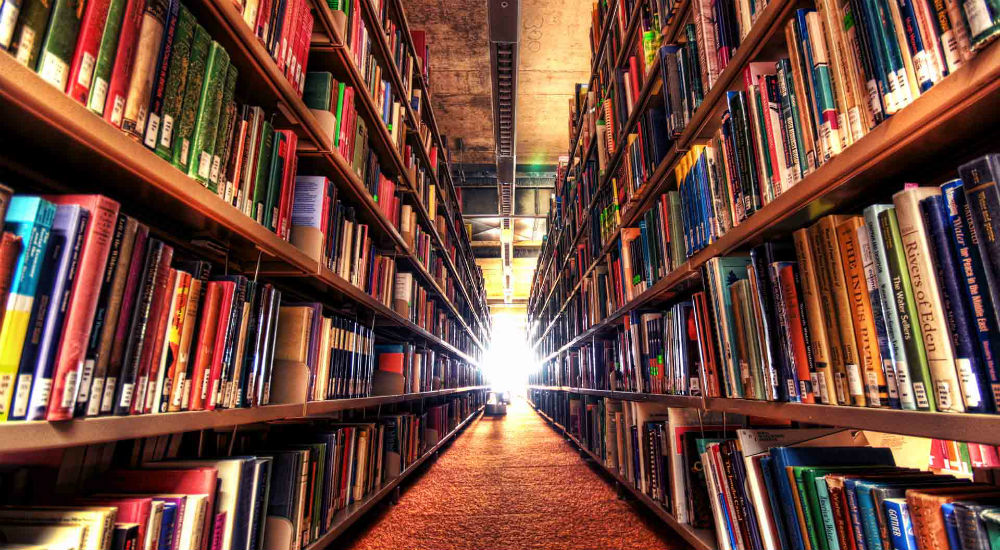A interdição policial da performance do paranaense Maikon K em julho deste ano foi o prenúncio da tsunami conservadora e criminalizante que se espalhou pelo país. Em seguida, outra interdição, desta vez judicial, do espetáculo “O Evangelho segundo Jesus Rainha do Céu”. Quase na sequência, o cancelamento da exposição “Queermuseum – cartografias da diferença” em Porto Alegre, da performance “La bête” no MAM-SP e da exposição Curto Circuito no Castelinho do Flamengo (com “sumiço” de quatro fotografias).
A tentativa de trazer a “Queermuseum” para o Rio foi abortada pelo bispo da Igreja Universal do Reino de Deus – que atualmente figura no cargo de prefeito do Rio de Janeiro – ao afirmar que a mostra só viria para a cidade se fosse para o fundo do mar (em alusão ao Museu de Arte do Rio).
Faço questão de descrever pelo menos alguns dos principais eventos de censura recente porque só podemos compreendê-los em conjunto. A estratégia de fragmentação desses episódios e de descontextualização das obras criticadas só serve ao oportunismo de grupelhos políticos (em especial um de meninos que se dizem liberais, mas não sabem a diferença entre “liberalismo” e “liberalismo econômico”!) que prestam um desserviço à nossa frágil e insipiente democracia. Que nasceram do fisiologismo com o que há de pior da política nacional.
Este é o primeiro ponto que gostaria de abordar: não estamos preparados para a democracia. Não sabemos o que fazer com o dissenso. Vivemos em uma estranha época em que todos são especialistas em tudo. Paradoxalmente, parece que o argumento é tão óbvio e autoevidente que sequer precisa ser argumentado, pois pode ser apresentado nos 120 caracteres do Twitter ou em formato de memes.

De autoria da dramaturga britânica Jo Clifford, ‘O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu’ traz Jesus Cristo à contemporaneidade na pele de uma mulher transgênero. Foto: Ligia Jardim/Divulgação
De todas as especialidades emergentes, vê-se uma horda de novos juristas, em especial de penalistas que tipificam quase que organicamente o que é um ato obsceno, pedofilia ou vilipendio de objeto de culto religioso. Encontramos também novas vozes do constitucionalismo, que realizam a ponderação de princípios com precisão tal qual o juiz hércules de Dworkin. Para estes, obscena não é a atuação censora da Polícia Militar, mas o corpo nu do performer que dança na – esta sim obscena – praça dos três poderes.
A criminalização sempre foi a estratégia mais covarde de fuga antidemocrática de um debate. O consenso é conseguido pelo silenciamento e rebaixamento patologizante do interlocutor. Qualquer possibilidade de aprofundamento do tema é imediatamente interrompida por um meme debochado ou por um xingamento calcado da polarização “esquerda x direita”.
O segundo ponto que gostaria de abordar brevemente diz respeito à impossibilidade de corpos não-normatizados.
Para o filósofo italiano Giorgio Agamben, a nudez é marcada em nossa cultura por uma forte tradição teológica. Não podemos, portanto, falar de nudez sem pensar em sua mediação com a noção do pecado. Adão e Eva, nus no paraíso, não se davam conta de sua própria nudez, pois viviam em estado de graça. A nudez original era aquela de não haver nada escondido para o outro: “E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se envergonhavam” (Gênesis 2:25).
Porém, ao pecarem, a primeira coisa que percebem é que estavam nus. Sentem, pela primeira vez, vergonha: “Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se” (Gênesis 3:7). O pecado original inaugura uma nova visão da interdição dos corpos, da vergonha do corpo nu.
Esta mediação com a interdição nos dá pistas valiosas acerca da criminalização da nudez. Só existe, para a cultura cristã, o nu derivado do pecado. Qualquer possibilidade de exposição parte desta matriz de inteligibilidade. Para Agamben, a nudez “é sempre desnudamento e pôr a nu, ou seja, nunca forma e posse estável. Em todo caso, difícil de ser apreendida, impossível de ser contida” (Agamben, 2015, p. 101) [1]
O artista nu (também no sentido não literal, do artista que desvela através de sua arte) ou a obra nua não expõe somente a si. Expõe principalmente quem vê e é obrigado a reagir com seu repertório, com sua caixa de ferramentas morais. A exposição fortuita do espectador por vezes vem seguida de reações animalescas: tal como Adão e Eva agarram rapidamente folhas para taparem sua intimidade, também o espectador exposto, posto nu, responde instintivamente ao ato.
A nudez da obra expõe a limitação daqueles que só entendem os corpos mediados pelo pecado original. Não há outro nu possível para este: o nu não obsceno, não pornográfico não existe. No entanto, está ali acontecendo e ao contrário de se esconder, se revela?
É por isso, talvez, que a única resposta possível à transgressão da transgressão (que seria a transcendência?) é a sua devolução à obscuridade, ao tabu.
É por isso que a criança (des)viada, a criança-Madoninha, a criança-deusa-das-águas com gestos afeminados não pode ser representada. Porque o espaço de representação sempre esteve reservado à criança-padrão.
Um recado sórdido vem junto da censura: “Ei, você, criança viada, se inspire nestes exemplos-padrão; normatize-se, porque a sua subjetividade é sinônimo de pedofilia”.
Também o entendimento de representações religiosas mediado pela possibilidade do pecado.
Estudei dos 4 aos 18 anos em um colégio católico tradicional do Rio de Janeiro. Lembro que em uma aula de religião, durante os preparativos da primeira comunhão, a professora perguntou solene: “Quem quer carregar a cruz?”.
A frase soou como uma sentença. Alguém teria que carregar a cruz. Quem seria?
Lembro do silêncio. Coração disparado. Pensávamos algo como: “meu Deus, por favor, não quero levar a cruz!”, “eu sou nova demais para carregar a cruz!”, “Eu não, eu não, por favor, eu não…”.
Depois de longos minutos compreendemos que se tratava de uma distribuição de tarefas para a cerimônia. Alguém teria que entrar – literalmente – levando a cruz. O contexto dava o tom de como as coisas deviam ser entendidas. O entendimento do “carregar a cruz” estava mediado pelo peso de toda a instituição, do temor. E assim foi, durante muitos anos.
Pouco a pouco fui achando tudo enfadonho, mofado e hipócrita. Como ser arauto de uma mensagem de amor e paz com o histórico de perseguição e castração de corpos e subjetividades da Igreja Católica? Como continuar reproduzindo literalmente algo que foi escrito há tanto tempo? Como discurso e prática podiam ser tão distintos (salvo raras e lindíssimas exceções)? Eram algumas das minhas ingênuas indagações.
Curiosamente, uma das obras mais polêmicas da Queermuseum, o quadro “Cruzando Jesus Cristo com o Deus Shiva“, de Fernando Baril, me fez reconectar com uma espiritualidade qualquer dessa época. Nos vários braços deste Jesus-Shiva, objetos simbólicos – luvas de boxe, um excerto de mãos representadas na Guernica, um cachorro-quente e outros símbolos da cultura pop – os pés calçados. Em uma das várias mãos o peixe, sinônimo da fartura, da multiplicação que sacia fomes, que comunga com o outro.

“Cruzando Jesus Cristo com o Deus Shiva”, de Fernando Baril, uma das obras que mais causou polêmica na exposição “Queermuseu: Cartografias da diferença na arte brasileira”. Foto: divulgação
Na tela, a crítica do desvio da mensagem de amor, que, instrumentalizada, transforma o conteúdo em forma pronta pra consumo: do souvenir da basílica, do cartão de crédito aceito pelo bispo, de cargos políticos em nome Dele, do próprio discurso religioso que passa a ter um fim em si mesmo para se tornar produto e não meio para a salvação de si e do outro.
A crítica desse aparelhamento, do “calçamento” do discurso de amor estava lá, representada. Mas isso é ofensivo à fé cristã. Igualmente ultrajante é o argumento: “E se Jesus vivesse nos tempos de hoje e fosse uma mulher transgênero?”, do espetáculo censurado em Jundiaí que propõe uma reflexão sobre “a opressão e a intolerância sofridas por pessoas trans* e minorias em geral na sociedade”.
Assim como a criança viada.
Assim como os corpos trans* nus das fotos censuradas no Castelinho do Flamengo.
Assim como qualquer possibilidade de representação contra hegemônica: não-branca, não-cis, não-heterossexual, não-colonizada.
Felizmente, com mais vigor e beleza, nos erguemos pelas brechas de res(ex)istência ao autoritarismo, em linhas de fuga à gestão biopolítica e bioeconômica da vida humana.
Estamos vivxs toda vez que artistxs insistem em levar a arte desviante ao MAR, ainda que do lado de fora, que um pequeno grupo ocupa o Castelinho do Flamengo até a reabertura da exposição, que grupos religiosos convidam o espetáculo censurado pelo juiz para dentro de seus templos, celebrando a diversidade e a atualidade da mensagem de amor, em cada internauta que posta à exaustão fotos de sua infância-viada, em cada roda de conversa contra a censura, onde nos reconhecemos e comungamos livremente.
[1] AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Tradução de Davi Pessoa. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.